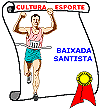|

Imagem: reprodução parcial da pagina 4 da edição de
4/3/1945 com o texto
I - O aventureiro
O trem que partiu da Estação do Norte na manhã de segunda-feira de Carnaval do ano de 1907 levou,
pelo menos, o dobro da lotação de passageiros. Nos carros de segunda classe, viajou-se como sardinha em lata. Pelas estações intermediárias,
embarcavam grupos de mascarados que, batendo cuícas e pandeiros, faziam barulho infernal.
Eu, sentadinho num canto, sobre a mala que achei disponível, tinha a impressão de que toda aquela gente se julgava na obrigação de parecer
desvairada de alegria. Ao redor de mim, um bolo humano comprimia-se e, com os solavancos, era atirado de um lado para outro.
Ria-se e praguejava-se. Um menino, de oito anos presumíveis, vestido de diabinho, encarapitava-se no espaldar do banco e, a propósito de tudo, dava
gargalhadas sem gosto que me buliam com os nervos. E, como se isso não bastasse, esperneava, atirando os chapins vermelhos contra as minhas costas.
Por várias vezes, tive de lembrar-lhe:
- Você, afinal, não é obrigado a mostrar-se tão contente!
O ar que se respirava era grosso, saturado de poeira. A cada parada do trem, entravam e saíam foliões. Homens de camiseta decotada, sem mangas, a
escorrer suor, sururucuvam tamborilando no chapéu de palha; mulheres vestidas de ganga, de cores vivas, chapeuzinho em forma de pandeiro, com
serpentinas esvoaçantes, esgoelavam-se num refrão popular. Surgiam de cambulhada em passo de dança e, com a partida do comboio, eram atiradas sobre
os demais passageiros. Toda essa gente gritava, dava pinotes clownescos, suava em bica. E havia bêbados, de olhos turvos, pernas bambas; a
propósito de qualquer coisa, coçavam o bolso traseiro da calça, procurando a arma.
Ao entardecer, deixamos Barra do Piraí e, logo depois, descemos a serra. O aperto em que se viajava ainda foi aumentando com a baldeação dos
passageiros de Minas. Havia gente empilhada na plataforma. Mascarados sentavam-se nos degraus da escadinha de ferro. Um príncipe hindu pendurou-se
na roda do breque e, a cada sacudidela, fingia despencar entre os carros em movimento.
Mas, dentro dos vagões era pior. Principalmente quando se entrava nos túneis e tudo escurecia. Ouviam-se gritos, protestos, risadas. Diversos
passageiros travaram-se de razões. Vi uma princesa riscar, com a faca, o espanador de um bugre. Mas tudo acabou bem, porque se estava no Carnaval;
um sujeito circunspecto repetiu várias vezes que "quem não gosta de divertir-se fica em casa". E todos lhe deram razão.
Depois de Belém, a baixada estendeu-se azul, levemente toldada de neblina. O sol poente broslava de ouro as águas adormecidas. Nas casas, penduradas
pelas faldas da serra, começavam a piscar as luzes. A última parada foi Cascadura. Dessa localidade para diante, o trem não parou mais. As estações
de subúrbio começaram a aparecer e a desaparecer, umas depois das outras. Estavam apinhadas de povo. Eram cordões que esperavam condução para a
Capital, onde deveriam tomar parte em concursos e desfiles, organizados pela imprensa. De fugida, viam-se os estandartes, ouviam-se os coros
carnavalescos.
Foi nesse clamor de loucura que o diurno de S. Paulo chegou à Estação Dom Pedro II. Os galpões de zinco, iluminados a gás, pareciam imensos salões
de festa. Tinha tanta gente que, para andar, era preciso acotovelar mascarados. Ao sair da estação, desemboquei numa cidade desarticulada pelo
Carnaval. Clarins e tambores marcavam o ritmo da vida. Ao lado disso, eram cânticos, gritos, assobios, vozes de falsete, silvos de serpentinas
atiradas de um lado para outro, falinhas de máscaras e pinchos de línguas-de-sogra. Havia caído sobre a Capital um ciclone de papel picado.
Empregados da Light, munidos de pás, retiravam de sobre os trilhos a espessa camada de "confetti", para que os bondes pudessem trafegar. Dos fios
elétricos, dos fios telefônicos e dos lampiões descia uma chuva colorida e esvoaçante de serpentinas. Turmas da Limpeza Pública, com enxadas e
ancinhos, raspavam o chão, fazendo montes de papel picado, e atiravam esse resíduo carnavalesco para o bojo de carretões puxados por parelhas de
animais.
A Rua Larga regurgitava. Era por ali que os cordões chegados do subúrbio demandavam a Avenida Central. Esperavam-se carros alegóricos. Os grandes
clubes dominavam a situação. O povo carioca dividia-se em três grandes facções, segundo as suas preferências carnavalescas. Não raro, depois de
discussão acalorada, na porta dos botequins, um "gato" anavalhava um "baeta", ou mesmo um "carapicu".
Naquele mar de cabeças, onde a noite havia confundido todas as tintas do arco-íris, ondulavam os estandartes. Essas insígnias eram conduzidas com a
mesma solenidade com que, nos dias de procissão, se transportavam os santos de uma igreja para outra. Fileiras de meninas fantasiadas
acompanhavam-nos, cantando em coro. A comissão de honra seguia o estandarte, com passos graves, preocupada com a pragmática. Na frente, vestido de
verde ou de vermelho, luvas brancas, ia o baliza. Esse rapazote, seguido de uma corte de mulheres, que o acompanhavam à distância, executava uma
dança característica: dava saltos de um lado para outro, fazia vênias e, sem cessar, exibia-se em difíceis molinetes com o bastão branco, enfeitado
de fitas no tope. Eram figuras célebres do subúrbio: o povo citava o baliza do Ameno Resedá ou do Chuveiro de Prata, como heróis.
De quando em quanto, topava-se com um folião estropiado. Este, arrastando a perna, trazia a máscara pendurada num cordão, atirada para as costas.
Aquele, por exausto, sentava-se na soleira de uma casa fechada e defendia-se da multidão, que parecia querer pisá-lo. Não raro, uma mulher caminhava
com os sapatos nas mãos, para desafogar os pés... O calor caía sobre a cidade, espesso, asfixiante. E eu de sobretudo no braço, maleta na mão.
Procurava um hotel, onde hospedar-me. Mas não havia acomodação em parte alguma. O Rio tinha sido tomado por viajantes de S. Paulo e Minas, atraídos
pelas festas de Momo. Na Rua da Alfândega, menos concorrida, entrei na Glória do Lamego, botequim de uma porta, atulhado de fregueses. Depois de
tomar um "chopp", encostado no balcão, pedi ao caixeiro gordo, pálido, de bigodes caídos:
- Quer guardar-me o sobretudo e a maleta até amanhã?
Ele encarou-me, esforçou-se por descobrir alguma esperteza na proposta e, como não encontrasse alguma, acedeu:
- Bote aqui, debaixo do balcão.
Agradeci, disse-lhe boa-noite e só então fui tratar a sério de procurar pouso. A muito custo, encontrei alojamento numa hospedaria de terceira
classe. Era o Hotel Luso-Brasileiro, à Rua Dom Manuel, nas proximidades do porto. Tinha uma lanterna na rua e um porteiro cochilando ao pé da
escada. Indicou-me a cama num quarto escuro, mal cheiroso, onde havia dois hóspedes. Eles, porém, já ressonavam e não deram conta da minha entrada.
Dormi até tarde e mais dormiria se, ali pelas 11, o porteiro não me fosse acordar para dizer:
- A noite já terminou; daqui para diante é nova diária...
Almocei no salão térreo, com grande mesa no centro. Estava rodeada de fregueses. Crianças rolavam pelo chão, assoprando línguas-de-sogra. Moçoilas
do interior penduravam-se nas janelas. Fora, desfilavam ranchos, passavam máscaras avulsos. As moças treliam. Encetavam-se diálogos, espocavam
exclamações. Quando saí, parei na porta e contei o dinheiro que restava: cento e quarenta e tantos mil réis. Era pouco. Muito pouco. Para passar no
Rio de Janeiro a terça-feira de carnaval? Não. As minhas ambições iam mais longe. Com esse dinheiro eu pretendia ir à Europa, nada menos que à
Europa...
Já na rua, comprei um jornal, procurei os anúncios de vapores e, depois de minucioso exame, lá encontrei o que me servia; era o cargueiro
Berenguer-el-Grande que, na manhã do dia seguinte, levantaria ferros com destino à Europa. Para falar verdade, eu não tinha preferência
por nenhum país. O essencial era ir à Europa. Estava-se num tempo de que muitos ainda se lembram: diversas companhias de vapores se debatiam
em agressiva concorrência. As passagens para o Velho Mundo tinham descido a preço irrisório. Foi assim que pude comprar um bilhete para Lisboa por
sessenta mil réis. Mas (explicou-me o empregado da agência) a viagem não era direta; no bilhete estava Almeria como porto de destino, e o vapor,
para atender a acordos com os governos interessados, deveria fazer escalas em portos da Espanha para, depois, dirigir-se a Portugal. Não olhei a
tais insignificâncias. Limitei-me a perguntar:
- E quando é a partida?
- Amanhã, às 6 horas. Mas, se quiser, poderá embarcar desde já.
Ouvindo tais palavras, resolvi ir buscar o sobretudo e a maleta que, na noite anterior, havia confiado ao caixeiro do botequim. A Rua da Alfândega
ficava ali mesmo. Entrei por ela e fui olhando as tabuletas, até que dei com a Glória do Lamego. O rapaz gordo, pálido, de bigodes, lá estava, ao pé
da torneira, lavando copos.
- Boa tarde.
O homenzinho não respondeu.
- Eu sou a pessoa que, ontem à noite, pediu-lhe para guardar um sobretudo e uma maleta de viagem.
- O quê?
Repeti a frase. Ele mostrou-se de mau humor.
- Deixou aqui um sobretudo e uma maleta de viagem? Você está a brincar comigo?
Eu era cândido como uma flor. Insisti:
- Ora, então já não se lembra? O senhor disse para eu guardá-los atrás do balcão. Ali...
E ia examinar o local, mas o homenzinho encrespou-se:
- Olhe, rapaz, esse conto é muito velho, já não pega...
Só então compreendi que o caixeiro estava de má fé.
- Quer dizer com essa que fui roubado?
- Roubado! E ainda se atreve a insultar-me!
Cresceu para mim com os olhos a saltarem das órbitas. Falava em conto do vigário, em polícia. Atirei-lhe palavras duras, roguei-lhe uma praga de
arrepiar o cabelo e – não fosse ele além do mais estragar-me a viagem – desapareci na primeira esquina. Ia viajar, portanto, com a roupa do corpo,
sem um agasalho, mas que importava? Ainda passeei algum tempo pela cidade, onde o carnaval atingia ao paroxismo e, ao cair da tarde, mediante
informações suspeitas, dadas pelos foliões, fui ter ao cais dos Mineiros.
O porto ainda estava em obras. Os navios ancoravam na baía; o embarque e desembarque era feito por meio de lanchas, a tanto por cabeça. O
Berenguer-el-Grande, que realizava a última viagem, não devendo mais tornar aos portos da América do Sul, tinha fundeado a umas duzentas braças
de terra e ali permanecia rodeado de embarcações. Avultava na distância como uma mancha escura, formigante de homens e mulheres.
A Guanabara cegava de reflexos. O sol dourava as suas numerosas ilhas. Por toda parte, navios ancorados, velas inclinadas ao vento, pequenas
embarcações rápidas e barulhentas. A qualquer momento que se aprestasse o ouvido, escutava-se o diálogo dos apitos dos transatlânticos e das sereias
dos rebocadores.
Os passageiros, à espera de lanchas que os transportassem para bordo, reuniam-se no cais. As famílias sentavam-se à roda de suas bagagens, à sombra
de guarda-sóis de sarja verde, como só usavam os imigrantes. Homens sentados na mala descascavam laranjas. Mulheres de cócoras diante de
espiriteiras aquentavam café. Crianças dormiam entre as trouxas. Jovens dançavam e cantavam, contaminados pelo carnaval. Um vendedor de cadeiras
preguiçosas e tamboretes para viagem corria os grupos, fazendo demonstrações, discutindo preços. E o sol caía obliquamente sobre o porto, estendendo
compridas sombras pelo declive calçado de grandes lajes, com gramíneas a repontarem dos interstícios.
À beira da água estacionavam as lanchas. Os remadores, de camiseta e calça arregaçada pelos joelhos, andavam pelos grupos a oferecer transporte. Em
certo ponto, circulou uma proposta: o patrão da Boa Viagem estava disposto a conduzir, de uma só vez, dez passageiros, a dois mil réis cada
um. Depois de muita discussão, os dez que aceitaram a avença trataram de embarcar na lancha. Entre esses estava eu.
O embarque foi trabalhoso. O mar apresentava-se picado e a lancha era mantida a pulso a uma braça da muralha, cabritando sobre as ondas. As mulheres
eram transportadas ao colo, como crianças. Os homens, depois de negacear, pulavam do cais à embarcação. Eu fiz o mesmo. Mas escorreguei e só não fui
tragado pelas águas porque um dos remadores me suspendeu pelo braço. Fiquei molhado até ao peito, o que ainda era mais desagradável porque já não
dispunha de roupa para mudar.
Reunidos na Boa Viagem, pagas as respectivas cotas, a lancha dirigiu-se para o cargueiro, misturando-se logo com as outras que lá estavam
igualmente a desembarcar passageiros e descarregar bagagens. Uma chata negra tinha-se encostado à popa do Berenguer-el-Grande; o guindaste de
bordo, com o ruído de uma metralhadora pesada, abaixava grandes baldes vazios e içava-os, atestados de carvão de pedra. Pequenas canoas, carregadas
de bananas e laranjas, encostavam-se ao casco do navio e seus tripulantes, por meio da cestinha que subia e descia na ponta de uma corda, realizavam
ativo comércio com os passageiros de boina, debruçados na amurada. E eram gritos, risadas, protestos.
- Ché, paisano, jira-me la plata!
O embarque efetuava-se por uma escada de madeira suspensa em cabos, no casco do navio. Os degraus muito espaçados. Os corrimãos de cordas e frouxos.
Além do mais, essa escada, quase a prumo, dançava assustadoramente com o peso dos passageiros. As mulheres procuravam transformar os vestidos em
calções, irritadas com a curiosidade dos que lhes ficavam por baixo. Algumas ameaçaram desistir da viagem. Chegou-se mesmo a falar em embarcá-las em
cestas, por meio de guindaste. Mas, com o tempo e um pouco de boa vontade, tudo se arrumou. Quando chegou a minha vez, grimpei pela escada acima; já
no portaló, senti faltarem-me as forças, mas um marinheiro que ali estava postado atirou-me no convés.
Caí numa aglomeração curiosa e divertida. A princípio pensei que se tratassem de emigrantes reunidos para assistirem às peripécias do embarque, mas,
logo depois, verifiquei que o navio, de popa a proa, de bombordo a estibordo, estava superlotado. Malas de todos os feitios, baús de todas as cores.
E trouxas, embrulhos, cadeiras de lona. Pisando-se, acotovelando-se, atirados uns sobre os outros, vi homens, mulheres, velhos e crianças. Sobre
esse amálgama pairava uma imensa queixa.
A maior parte vinha do Rio da Prata. Era fácil distinguir pelo traje. Os homens vestiam roupa de veludo cor de garrafa, lenço no pescoço e boina, de
lado, igualzinha a um figo seco. Muitos cobriam-se com guarda-pó de palha de seda, que esvoaçava castigado pelo vento. E, com as alpercatas que
tinham sido brancas, esmagavam os detritos do pavimento metálico. O ar cheirava a maresia, estábulo, cozinha e tintas frescas. Dava vertigem.
À meia nau, sobre a casa das máquinas, alteava-se vasta caixa coberta de encerado, como uma mesa; do centro, erguiam-se as duas chaminés
alcatroadas, onde se destacavam os metais polidos do apito e das sereias. Na boca das chaminés, havia uma trepidação de ar quente, levemente
irisado. Suspensas da cordoalha, viam-se duas goelas de lona, em forma de arraia; estavam sempre voltadas para barlavento e destinavam-se a arejar
os porões.
Dei um salto e sentei-me no rebordo da caixa negra, pulverizada de carvão. Era o único lugar livre do navio. Mas, o primeiro marujo que passou, os
tamancos a baterem na sola dos pés, puxou-me violentamente para o chão:
- Abaixo!
E me encarou com olho feio, como se eu estivesse praticando um crime. No chão, esmagado pela chusma que crescia incessantemente, procurei
acomodar-me sobre uma coberta de madeira que corria por toda a extensão do convés. Aquilo parecia ter sido construído para banco. Mas era o
carter do tubo que levava vapor para os guindastes. Batido pelo vento, o seu calor era tolerável, mas com a permanência prolongada sobre ele,
começava a esquentar, a esquentar... Desisti. Barafustei pelo corredor, ladeado de beliches destinados aos homens de bordo. Mas voltei assustado,
porque nas paredes internas havia letreiros proibindo a entrada de passageiros. A bordo tudo era proibido.
Passei para o outro lado. A mesma aglomeração. Era ali que estava instalado o matadouro. Sim, o matadouro. Devendo fazer travessia demorada e com
tantos passageiros, o Berenguer-el-Grande conduzia uma dúzia de bovinos para as necessidades da alimentação. Para isso, tinham armado um
curral, onde os bois permaneciam lado a lado, separados entre si por tapume de tábuas. Faziam a viagem com a cabeça para o lado do mar, afocinhados
na baia comum, atestada de alfafa. O chão apresentava-se alto de palha e estrume. De quando em quando, os animais erguiam a cabeça e soltavam longos
mugidos.
Os tratadores do gado permaneciam sentados do lado de fora e conversavam, alheios ao movimento do porto. Eram dois homens escuros, magros, de maçãs
salientes e olhinhos pretos muito apertados. Estavam de botas pelo meio da canela, bombachas, largo cinto de cor, jaleco curto, debruado de
vermelho. Seus cabelos compridos, grossos, desciam da nuca e perdiam-se no lenço branco, amarrado ao pescoço, em forma de gravata. Com o tempo e a
convivência, aqueles homens iam se tornando bois...

Imagem: reprodução parcial da pagina 4 da edição de
11/3/1945 com o texto
II - Terceira classe
Encontrei-me diante de uma escadinha de ferro, estreita, quase a prumo. Subi por ela. Ia dar na proa. Ao chegar lá em cima, não pude continuar
passeio; a tolda estava inteiramente tomada por passageiros, de preferência os que vinham do Prata. Apartavam-se em famílias e grupos. Sob a coberta
de lona, conversavam, jogavam cartas. Seus baralhos me pareceram excêntricos: os ouros eram representados por moedas, os paus por bastões, as copas
por taças amarelas, e as espadas por espadas...
Voltei no mesmo pé. Uma umidade agradável subia das águas, vinha no vento, acariciava-me as faces afogueadas. Perdi-me de novo na chusma que se
apertava contra o portaló. Lá em baixo, continuava a algazarra dos passageiros que se esforçavam por embarcar. Escurecia. Os marinheiros começavam a
passar com lanternas altas, protegidas por uma rede de arame. Na popa, sob os jatos brancos de dois holofotes, o segundo guindaste recolhia cargas,
bagagens. Os motores continuavam como o ruído de metralhadoras pesadas. As lingadas suspensas do gancho, na ponta da corrente, giravam no ar e
vinham estacar sobre o convés; depois, desciam a prumo pela escotilha aberta e iam pousar no fundo do porão, onde os estivadores acamavam os fardos.
Dali a pouco, correu a voz de que já tinham aberto os dormitórios, o dos homens e o das mulheres. Com tal providência, muitos passageiros se
encaminharam para as escotilhas onde, pelas estreitas escadas de ferro, desceram para os respectivos porões. As camas tomavam todo o recinto. Junto
às paredes internas do navio corriam armações metálicas, de caminhas superpostas, até a uma altura de dois metros. Por dentro das armações, viam-se
as rodelas luminosas das espias. Ao centro do porão, três outras armações metálicas, de leitos superpostos, da mesma altura, perdiam-se na treva.
Nos leitos, apenas o colchão de duas polegadas, o travesseiro e uma manta cinzenta com barra vermelha, que parecia feita de pasta e não de tecido. A
qualquer esforço desmanchava-se, como se fora de mata-borrão úmido.
Eu também quis descer para o dormitório, mas não consegui. A meio da escada, senti mais forte o cheiro do ácido que desde o embarque me irritava o
olfato. Aquele cheiro entrava pelo nariz, ia direto ao estômago, revolvendo-o. E o estômago ficava aguado, transbordante. Voltei do porão e –
acontecesse o que acontecesse – resolvi passar a noite na coberta. Encostei-me à amurada e fiquei a olhar a cidade, que me pareceu um braseiro. As
lanternas dos bondes e dos carros surgiam no horizonte, focalizavam o mar e depois viravam para a direita ou para a esquerda. De lá vinha um ruído
estranho como aquele que a gente escuta no interior dos caramujos. Devia ser o carnaval. Foi ali, num momento de angústia, que aquele homem se
destacou da treva e caminhou para mim...
Era alto, louro, de boas maneiras, vestido com apuro. Ao vê-lo estacar diante de mim, sorridente e afável, julguei-o passageiro distinto que tivesse
descido a escada do tombadilho para imiscuir-se com a gentalha do convés, a fim de melhor apreciar aquelas cenas. Mas, logo às primeiras palavras,
pôs-me ao corrente da sua vida. Era filho – contou-me ele – de notável médico português e desde muito jovem vivia no Brasil. Embarcara em Santos.
- Vai matar saudades?
- Não. Meu pai faleceu há dois anos em Lisboa. A partilha do espólio arrastou-se com lentidão por causa da madrasta. Agora, fui chamado para receber
a minha parte e a do mano que trabalha aqui no Rio de Janeiro. Cerca de 38 contos fortes para cada um de nós, dinheiro a valer. Mas, o convite do
consulado apanhou-nos inteiramente desprovidos de recursos. Por esse motivo, tenho eu de fazer a viagem nesta horrível terceira classe. Mas, em lá
chegando...
Seus olhos azuis metálicos brilharam de malícia.
- E o irmão?
- Nelson prometeu-me vir a bordo, para trazer-me alguns papéis e as despedidas.
Dizendo isso, pôs a mão em pala, a fim de descobrir, entre as embarcações que demandavam o costado do navio, a figura do irmão. Impossível. A baía
era como um lago de sombra, pontilhado de luzes oscilantes. Ao fundo, a cidade aparecia iluminada, riscada de lanternas de veículos. E, a qualquer
instante que se apurasse o ouvido, escutavam-se remotamente apitos de transatlânticos, uivos de sereias.
Depois de me observar, condoeu-se da minha palermice provinciana:
- Estes lugares estão sempre infestados de batedores de carteira. Se traz dinheiro consigo, pode confiar-me que eu o levarei ao comissário, como já
fiz com o meu.
Achei graça naquilo. Contei-lhe chãmente a minha aventura. Ia para a Europa com... com... Tirei do bolso o dinheiro que restava e contei-o, à sua
vista. Ao todo, uns quarenta mil réis.
- Vou cambiá-lo, como se diz em linguagem de bordo. Com a moeda brasileira não poderá comprar um figo podre durante a viagem, nem conseguirá
desembarcar em Lisboa.
Sem mesmo inquirir das minhas intenções, tomou-me o dinheiro, abriu a escarcela de prata e, com as unhas bem tratadas dos dedos fusilíneos, catou
dois ou três duros espanhóis e algumas moedinhas de prata, portuguesas, que me passou de volta, ressalvando:
- Não sei se está certo, mas isso lhe facilitará muito a viagem...
Não protestei. O desconhecido fazia aquilo com uma bondade, com uma espontaneidade... Mas não se deu por satisfeito:
- E o outro dinheiro? O grosso? Não me diga que vai à Europa com esses quarenta mil réis.
- Pois é a verdade.
- Jura?
- Por Deus.
Ele sobressaltou-se:
- Pois, nesse caso, vai morrer de fome. Ainda é tempo de tomar uma lancha e voltar para terra.
Limitei-me a rir. Ele sentiu-se empulhado e, já com uma pontinha de mau humor, debicou-me:
- Não faça como esses labregos, que levam o dinheiro amarrado na perna. Isso não é decente. É muito feio.
E, a brincar, apalpou-me as canelas.
Estávamos nessa conversa, quando um rapaz de cinzento, lencinho no bolso de cima, surgiu no portaló e correu para ele:
- Luís! Quase não pude vir despedir-me! O canoeiro queria uma fortuna para trazer-me até aqui e esperar-me um quarto de hora. Espinafrei. Deu um
salsifré dos diabos. Quase fui conversar com o comissário do distrito...
Abraçaram-se a rir. Vendo-me ali, o recém-chegado perguntou:
- Seu amigo?
- Este menino também vai à Europa. É o... Como se chama mesmo?
- Felipe.
Nelson cumprimentou-me com efusão. Afinal, naquele meio tão misturado, era um prazer encontrar-se companheiro com quem se pudesse trocar impressões
para matar o tempo. Os dois rapazes sentaram-se no carter, sob o qual transitava o cano de vapor, e ficaram a conversar. Eu fui para a
amurada, a ver o que se passava lá em baixo. Os passageiros desembarcavam das lanchas e repetiam as cenas diante da escada de madeira com degraus
espaçados e corrimãos de corda. Debruçado sobre o mar, ainda assim continuei a ouvir a conversa dos dois irmãos. Luís recomendava:
- Se Luísa precisar de alguma coisa, não discuta, atenda-a em tudo; quando eu voltar, ajustaremos as contas.
- Ela virá ao Rio?
- Ela? Coitada! Ficou apenas com o dinheiro contadinho para passar três meses.
- Está bem. Está bem.
Nelson consultou o relógio e alarmou-se. É que, lá em baixo, o remador já deveria estar resmungando. Despediram-se, enternecidamente. Veio
desejar-me boa viagem. Acompanhei-o até ao portaló. E, descendo, a equilibrar-se na escada, ainda nos recomendou:
- Façam a viagem juntos, sejam amigos, assim o tempo passará mais depressa...
Vimo-lo chegar ao nível da água, saltar para a lancha e sentar-se ao fundo. A embarcação afastou-se. Daí a pouco, não passava de uma luzinha
oscilante, perdida entre muitas luzinhas oscilantes.
Eu e Luís voltamos para o carter que, afinal, era o único banco daquela parte da coberta. Ficamos a conversar. Luís pareceu-me
extraordinariamente gabolas. Dizia-se da alta sociedade. Era sócio de clubes elegantes. Tinha pensado em mudar de nome para viajar daquele modo, mas
isso poderia trazer-lhe dificuldades por ocasião do desembarque. Afinal, ninguém lê a lista de passageiros da terceira classe. Se alguém se desse a
esse trabalho, pensaria que aquele Luís Beraldes que ali aparecia era algum emigrante de igual nome... No primeiro porto de escala, telegrafaria aos
conhecidos de Lisboa; os jornais dariam notícia da sua chegada, a Sociedade de Medicina, de que o pai fora presidente, nomearia uma comissão para
recebê-lo, os amigos da família poriam uma banda de música no cais, a fim de tocar durante o seu desembarque. E foi por aí a fora, deliciando-se com
a própria importância.
- Mas, qual é a sua nacionalidade?
- Aqui sou português; lá sou brasileiro.
- Não compreendo.
- É difícil explicar.
E, sempre embalado pela admiração que sentia por si mesmo, mostrou-me duas carteiras de identidade, uma de S. Paulo, em que figurava como português,
outra do Rio, dando-o como brasileiro. Nessa conversa, as horas iam-se passando. Já não se ouvia a metralhadora dos guindastes. Os últimos
passageiros embarcados tinham sumido no quadrado escuro das escotilhas. As grandes chaminés começavam a vomitar fumo negro e espesso. Na baía,
emudeciam as sereias. De súbito, o convés tremeu: dali mesmo, das nossas cabeças, partiu um urro soturno e prolongado que acordou os fantasmas das
montanhas. Assustei-me. Ele sorriu. Era o primeiro dos três apitos de partida. Os vigias passaram carregando lanternas, a baterem os tamancos.
Lembro-me vagamente de que, em dado momento, Luís se pôs a queixar-se da rapinagem dos lojistas cariocas.
- Imagine que dei não sei quanto por um vidro de extrato e quando abri só encontrei isto...
Tirou um vidrinho do bolso, pingou umas gotas no lenço e aproximou-o do meu rosto. Não gostei do cheiro e afastei a cabeça; ele apertou-me o lenço
contra o nariz.
Não sei o que foi aquilo, mas acordei alta madrugada, sacudido por um marinheiro. Estava deitado no carter que era refrescado pelo vento
encanado, mas, quando a gente pousava sobre ele o calor crescia como por milagre. Tendo dormido sobre aquela tábua, acordei-me com as costas a bem
dizer assadas. Da minha roupa encharcada, subia uma fumaça tênue. O marinheiro boquiabriu-se diante da resistência do meu sono; depois, empurrou-me
para o porão. Era que atrás dele vinham outros homens segurando mangueiras cujos jatos de água salgada se cruzavam sobre a coberta, arrastando os
resíduos para o mar.
Embora um tanto aurado, dirigi-me ao ponto em que sabia o porão dos homens. Nesse curto caminho observei que o navio já se achava em marcha. A
bombordo e a estibordo desfilava, em sentido inverso, o cenário surpreendente da Guanabara. Mas, estava fosco de neblina. O Pão de Açúcar erguia-se
à proa, barrando-nos a passagem. Ouviam-se campainhas e assobios de manobra. O gado do estábulo, com certeza amedrontado pela arfagem do navio,
erguia a cabeça e mugia. Da popa, vinha um referver de águas e o palpitar isócrono das hélices, ruído que durante muitos dias deveria servir de
fundo à nossa vida, até tornar-se hábito, apagar-se no silêncio.
Desci ao porão, descobri uma cama vazia e subi para ela, mergulhando de novo naquele sono inexplicável, mais do que os outros, irmão da morte. Dormi
não sei quanto tempo, para acordar com um reboliço. Um marinheiro agitava a sineta no ar e gritava:
- Todos para a coberta!
Durante meia hora, subiu pela escadinha um formigueiro de homens. Eu fui dos últimos. Ainda ouvi quando o marítimo informou que era para a
desinfecção e que, se alguém ficasse preso, morreria. De fato, dali a pouco, ouros homens entraram, trazendo baldes de carvão aceso, com uma camada
de enxofre; a fumaça era asfixiante. Depois da vistoria, regressaram ao convés e já iam fechar a entrada, quando se ouviram gritos lá em baixo e
dois homens, um atrás do outro, puseram a cabeça pela escotilha. Tinham os olhos esgazeados, a boca aberta, numa expressão de pavor.
- Seus papéis?
- Não temos.
- Clandestinos?
- Sim.
- Vamos ao comissário.
Lá foram eles. O que ia na frente procurou sorrir aos circunstantes, mas não conseguiu. Tinha as mãos enormes, negras, com bolotas de calos. O que
ia atrás era um moço de peito cavo, lenço no pescoço, cabelo intonso; em toda a sua pessoa havia qualquer coisa de espiritual e grácil. Abriram
caminho entre a chusma aglomerada no convés. Meia hora depois, vendo passar o marinheiro que os havia detido, perguntei-lhe:
- Onde estão os clandestinos?
- Em baixo, metidos a ferros...
Os passageiros do Brasil foram confinados na proa. Em baixo da escada, colocou-se uma mesa junto à qual se instalou o subcomissário. Era a revista.
A gente descia, apresentava a passagem e respondia às perguntas que lhe eram feitas. Estava-se em 1907. Naquele tempo, havia passaportes,
salvo-condutos etc. Mas não tinham a importância de nossos dias. Foi assim que, quando chegou a minha vez, pude responder com certa negligência:
- Sua passagem?
- Cá está ela...
- O passaporte?
- Não tenho.
- Aonde vai?
- A Lisboa.
- Quantos quilos de bagagem?
- Não uso bagagem.
O subcomissário sorriu, os circunstantes também. No livro grosso, foram tomadas notas apressadas.
- Sua idade?
- Dezesseis anos.
- Que vai fazer à Europa?
- Vou passear.
Dessa vez, os circunstantes puseram-se a rir e o subcomissário coçou, aflitamente, a ponta do nariz.
- Pode passar.

Imagem: reprodução parcial da pagina 4 da edição de
18/3/1945 com o texto
III - Alto mar
Um dos fins daquela revista era reunir os passageiros em grupos de sete, para a distribuição das refeições. Incluíram-me na família de d. Carmen
Fontela, fato que a princípio não teve para mim maior importância mas que, logo depois, muito me alegrou. Um marinheiro indicou-me essa passageira:
- É aquela mulher, vestida de preto, debaixo do cachimbo.
Cachimbo, na linguagem do marinheiro, era um daqueles canos grossos, de ponta aberta em concha, sempre virada para barlavento, que se destinam a
arejar os porões. Fui ter com a "chefa" do rancho. Recebeu-me bondosamente. Viajava com dois filhos, mais ou menos da minha idade, e uma irmã
solteira.
Subindo do porão em que se instalara, d. Carmen Fontela levou consigo os cobertores de mata-borrão e, estendendo-os no pavimento, à sombra do
cachimbo, ali organizou a sua casa. Ao pé dela, havia uma mala de viagem que valia por sortida despensa; tinha açúcar, limão, salame, garrafa de
álcool, espiriteira, máquina para fazer café e pastilhas contra enjoo. As pessoas restantes de nosso rancho eram um casal que, logo depois, não se
conformando com o passadio, pagou a diferença e transferiu-se para a segunda classe.
Organizado o grupo, recebemos pratos, canecas, talheres, a vasilha para a comida e o "porrón", uma espécie de regador de jardim, cujo cano
terminava em bico. Aos domingos, as refeições eram sensivelmente melhoradas e o "porrón" aparecia cheio de vinho, muito aceitável, porque
naquele tempo o vinho era, em certos países, mais barato do que a água.
De acordo com a praxe de bordo, cada pessoa do rancho tinha o seu dia de faxina; ia buscar o café, o almoço, o jantar e, após a refeição, devia
lavar, enxugar e guardar o vasilhame. Para muitos grupos, essa usança suscitou mau-humor e malquerença. Para nós, não. A senhorita Flora, irmã de d.
Carmen, mostrara-se ainda mais amável do que bonita. Desde o primeiro momento, chamou a si as atribuições de dona de casa, que tão bem lhe ficavam.
Servia-nos o café, o almoço e o jantar, como se estivéssemos em sua residência, na Rua Camerino.
Esquecia-me de contar que D. Carmen, viúva de um modesto negociante da Saúde, depois de liquidar a herança, reunindo soma assaz respeitável,
resolvera mudar-se para a Espanha, sua terra, onde viviam os pais e irmãos. Vestia-se de luto fechado e era ainda bonita, com alguns fios de prata a
comprometerem o negrume da cabeleira. Os filhos tinha saído da escola para embarcar; eram pálidos, de olhos grandes e vivos, cariocas até à medula
dos ossos...
A princípio, encontramos mar chão, notando-se que o navio adernava um tanto ou quanto de estibordo. Foi preciso reestivar a carga, até alcançar o
equilíbrio. Mas, a arfagem foi suficiente para indispor a muitos passageiros. Começou, então, aquela comédia que muitos conhecem. Em plena refeição,
ou no ponto mais interessante da conversa, um homem ou uma mulher saíam correndo de onde estavam e se debruçavam na amurada; não era para apreciarem
os peixinhos que saltavam à flor das águas. Muitos não chegavam até a amurada e, então, era a calamidade. Ao cair da tarde, encontramos mar agitado;
o velho casco entrou de oscilar, propagando-se o mal. Uns enjoavam com o balanço, outros com o enjoo dos demais...
Esse foi, precisamente, o meu caso. Além do mais, havia o cheiro das panelas. No entanto, a cozinha apresentava bom aspecto. Mas o seu odor entrava
pelas narinas e revolvia as vísceras. Instalada na coberta, utilizando o vapor das máquinas, tornara-se notável desde logo pelo tamanho e asseio das
vasilhas. Ao lado, funcionava a padaria. Tive ocasião de observar, mais uma vez, que as personagens criadas pelo gênio de Cervantes são eternas. Ao
que parece, todas elas, achando-se desempregadas desde a extinção da cavalaria, tinham encontrado emprego a bordo do Berenguér-el-Grande. Vi
Sancho Pança deitar pão ao forno. Vi o Cavaleiro da Triste Figura atirar à mesa um quarto de boi e, com a sua machadinha cortá-lo em postas. Vi
taverneiros, campônios, pastores e homens de armas, absorvidos nos diversos serviços daquela cozinha. Era como se eu estivesse a ler a história mais
bonita do mundo, com ilustrações de Alberto Durer, tornadas de carne e osso por um milagre da imaginação...
No dia seguinte, nem mesmo esse quadro me interessou. O céu estava turvo. Uma chuvinha miúda atravessava de fora a fora a coberta do navio. Quase
todos os passageiros haviam se recolhido aos porões. Eu quis fazer o mesmo, mas não consegui. Desci a escada até ao meio, e voltei depressa. Lá em
baixo, o chão apresentava-se alto de detritos, escorregadio. Ouviam-se queixas, gemidos, gritos angustiosos de gente que deitava carga ao mar.
Voltei à coberta. Uma lufada arrebatou-me o chapéu: vi-o dançar sobre as águas e ficar para trás. Foi essa, embora não pareça, uma grande perda.
Acossado pelo nordeste, batido pelas cargas de água que, de quando em quando, lavavam o convés, grimpei pela escada de proa e fui esconder-me
debaixo da tolda.
Estava quase deserta. As redes abandonadas dançavam ao balanço do navio. Apenas algumas pessoas estiradas em cadeiras preguiçosas, ou sentadas pelo
chão, formavam roda. Eram, geralmente, passageiros embarcados em Buenos Aires, que já haviam vencido o período de enjoo. Uns jogavam cartas, sem
entusiasmo. Outros chocavam uma chaleira de alumínio, que fervia sobre lâmpada de álcool; de quando em quando, botavam erva na cuia, entornavam
sobre ela a chaleira e punham-se a chuchurriar, com fleuma, o chimarrão.
Entre montes de cabos de atracação, encontrei quatro homens de condição aparentemente diversa. O que estava deitado de bruços, como um lagarto, era
espesso, curtido pela intempérie: calça, camisa, paletó cheio de remendos, alpargatas de lona, tudo isso revelando penúria que roçava pela
indigência. O segundo, afundado no rolo de cordas, vestia traje escuro, lenço branco à volta do pescoço, camisa preta, chapéu de abas largas e
folhuda gravata de laço. Tinha os cabelos longos e as mãos brancas. O terceiro era um trabalhador do porto, depreendia-se logo pela roupa e pelos
gestos. O quarto, com tendência para a obesidade, deveria ter-se conservado escorreito por um regime de fomes e inquietações. Eram alegres e
conversavam entre si. Na noite anterior, tinham ficado ali, a gargantearem canções.
Fui me aproximando, aproximando. O de chapéu grande e gravata folhuda mostrou-me uma pobre maçã que trazia no bolso:
- Le gusta?
- Si, pero estoy mareado. Gracias...
Foi como se lhes tivesse contado uma anedota. Simpatizaram comigo. Chamaram-me para a roda. Gostei da conversa. Mostravam uma cultura que eu estava
longe de supor. Sabiam coisas estranhas. Conversando, sem dar por isso, dissecavam convicções e sentimentos. De quando em quando, referiam-se a
autores em que eu jamais havia ouvido falar. E viam o mundo de modo diferente, uns com azedume, outros com bonomia. Seus heróis eram diferente:
Louise Michel, Santo Caserio...
- E Napoleão? - perguntei eu, para entupir-lhes a boca.
Uns riram, outros não. O homem, que tinha nascido para lagarto, fez-me ligeira concessão:
- É um homem notável.
- Pelas vitórias?
- Não. Porque introduziu a batata na Europa e fabricou açúcar com beterraba.
De resto, tinham a obsessão dos pobres, das crianças e dos desamparados. Ao cabo de meia hora de conversa, perguntei-lhes:
- Vocês são franciscanos?
Saborearam convenientemente a minha dúvida. Depois, o homem do chapéu grande respondeu, vagarosamente:
- Pertencemos a uma família perseguida. Quando nos surpreendem num país, prendem-nos e nos deportam para outro...
- Isso acontece na Argentina?
- No mundo inteiro.
Não compreendi as suas palavras, mas não quis mostrar-me indiscreto. Naquela mesma noite indaguei de Luís quem eram eles. O "rubio", como lhe
chamavam os gringos, estava sempre a par de tudo e esclareceu:
- São anarquistas expulsos da Argentina.
O primeiro domingo amanheceu dourado. Ali pelas cinco horas, já era dia. O mar continuava revolto, mas, batido pelo sol, não dava medo a ninguém.
As gaivotas iam e vinham, depois fechavam as asas, pousavam na água e ficavam a embalar-se como taças de espuma. A bombordo ainda se divisava terra;
não passava, no entanto, de uma sombra, vista por entre os cúmulos de rebordos prateados.
Depois de uma semana de chuva, confinamento nos porões e enjoo, acordamos com os raios de luz que entravam pelas espias e iam dançar sobre o
pavimento viscoso. Apenas despertos um a hum, os habitantes daquele mundo, que lembrava o interior das minas, punham-se a dialogar com pessoas que
não viam, a cantar, a rir sem saber de quê. Depois, ainda abotoando a camisa ou apertando a cinta, procuravam o convés.
Uma parte do pavimento estava avermelhada de sangue e os marinheiros, de mangueira em punho, faziam nova lavagem. É que os homens do curral, antes
que os passageiros tivessem acordado, haviam procedido à matança do boi para aquele domingo. Sobre vasto pano de lona estendido no chão metálico,
viam-se quartos e vísceras do animal sacrificado. Homens com um saco de aniagem metido pela cabeça transportavam as peças para o porão. Argentinos
habituados a esses espetáculos designavam os diversos pesos e a melhor forma de saboreá-los. Um deles mostrou preferência pela carninha rija da
barriga, e lambeu os beiços:
- Mira el matambre! Que churrasco macanudo!
Nos últimos dias, por causa do mau tempo, a senhorita Flora, muito "mareada", não tinha pensado a sério nas suas atribuições de dona de casa.
E ninguém reclamou. Só os viajantes procedentes do Prata, tendo já vencido o enjoo, toleravam a comida. Para nós, ainda sujeitos a ele, a vista da
carne com batatas era um veneno. Quando a gente passava por um grupo que almoçava à roda da vasilha de lata, e sentia o cheiro do pitéu, apressava o
passo, tapava o nariz.
Mas aquela manhã, animados pelo sol madrugador, já não estávamos tão ariscos. Foi com justificado contentamento que vimos a senhorita Flora
debruçada na extensa pia, entre outras pessoas, a esfregar o vasilhame. Um café bem quente seria ótimo para nossos estômagos.
À espera do toque de sineta que anunciava a distribuição do rancho, acompanhei uns curiosos que se encaminhavam para a popa. Quando lá cheguei, já
havia muita gente. Ouvia-se mais forte o pulsar da hélice e o ferver das águas. O segundo piloto, todo de azul, com o boné branco achatado sobre a
orelha direita, mostrou-se contente por sentir, à volta de si, a curiosidade dos passageiros.
O homenzinho ocupava-se num serviço de suma importância: averiguava a marcha do Berengguer-el-Grande. Para isso, atirou ao mar a barquilha,
peça de madeira com a forma de um quarto de círculo, atada a um longo cordel; o aparelho ficou para trás, a flutuar, numa distância de vinte ou
trinta metros. O cordel terminava num relógio parafusado à amurada de popa e, girando, movimentava ponteiros sobre o disco de metal com algarismos.
Dentro de algum tempo, ele tomou notas no caderninho e mandou retirar a barquinha. Luís aproximou-se com o ar de quem havia descido da primeira
classe, bateu-lhe amigavelmente no ombro e perguntou-lhe:
- Que tal a marcha?
- Pequena. Quatro nós por hora.
- Então, vamos levar um mês até a Europa?
- Isso mesmo não é certo. Na noite passada, com vento ponteiro, não adiantamos quase nada.
E lá se foi, atrás do marinheiro que arrastava o comprido cordel. A notícia correu de boca em boca e encheu-nos de desânimo. A todos, menos a José
Francisco Joaquim. Era um homem baixo, atarracado, escuro. Não fossem os cabelos lisos e grisalhos, a gente o tomaria por mulato. Tinha um chapéu "à
moda velocípede", no alto da cabeça. Vestia camisa e algodãozinho riscado e trazia a calça do mesmo pano arregaçada até aos joelhos, mostrando
pernas negras, cheias de gilvazes, curtidas pelo sol. Acrescente-se a isso um saco de lona que, preso pela cinta, lhe servia de avental, o prato e a
caneca presos à ilharga, pra não perder de vista utensílios tão preciosos, e os tamancos exibindo pés que, tantos dias depois, ainda se apresentavam
cobertos de picaduras de insetos. Viajava com a mulher e a filha.
A sra. Maria, a esposa, devia orçar pelos quarenta, mas era velha, irremediavelmente velha. Trazia o cabelo grisalho repartido ao meio, com as
tranças enroladas na nuca, num bendegó que lembrava medalhão de terracota. Das orelhas, pendiam-lhe argolas de ouro, que oscilavam com os balanços
do navio. No rosto magro, poder-se-ia acompanhar com a ponta do dedo os ossos da caveira. Tinha a boca horizontal e os lábios finos. Quando ria,
mostrava a falta de um dente. Parecia estar sempre com frio. Naquela manhã, como sempre, enrolava-se continuamente no xale de lã.
Rosalina, a filha, tinha pouco dos pais. Era morena, pálida, de grandes olhos pretos, boca carnuda e vestia com certa graça. Tudo nela eram
delicadezas e ternuras. Quando o pai e a mãe se excediam, ela sorria docemente para os ouvintes, a pedir-lhes perdão das ingenuidades dos velhos.
Assim fez, quando José Francisco Joaquim, para responder aos que lastimavam a lentidão do navio, se pôs a dizer, num ar de comício:
- Onde é que nós poderíamos arranjar um mês de casa e comida pelos 60 mil réis que nos custou a passagem? Quanto mais tempo durar a viagem, melhor!
Aqui se vive a "la gordaza". Aposto que muitos desse que estão para aí a reclamar contra a demora da travessia nunca passaram na vida período
de tamanha abastança. Muitos, disse eu? Todos!
Os passageiros tinham-se agrupado diante do orador. Ele gozava com o interesse dispensado as suas palavras. Depois, atentando em mim que ali estava
à procura de assunto para matar o tempo, tratou de abrir generosa exceção:
- Todos, menos esse menino que aí está... Conheço-o eu desde muito tempo. A família dele possui uma data de terras para lá da ponte, com casas e
plantações. Todas as manhãs, ele ia à estação e voltava com jornais e cartas. Nós, eu e os meus companheiros, estávamos trabucando na conservação da
linha; ele, que aí está, cumprimentava-nos um a um, quase sem olhar. E nós dizíamos um ao outro: "São dez e meia, pois lá vai o senhor morgado!"
Ria da minha admiração ao encontrar ali um dos trabalhadores da estrada que passava pelo lugarejo. A mulher não podia compreender que sendo eu
brasileiro me dirigisse a Portugal e que, filho de família abastada – acreditavam eles – viajasse com os pobres, na terceira classe do
Berenguer-el-Grande. Mas a filha, nascida à beira do mangue e já com saudades do barracão da conserva, todo de zinco alcatroado e
rosas-mariquinhas florindo pelas janelas, pareceu compreender a minha aventura.
A sra. Maria chegara jovem ao Brasil e voltava velha. Passara todo esse tempo roída de saudades. E, por milagre dessa saudade, fora criando uma
Europa de acordo com as suas necessidades. Tudo o que lhe faltava aqui abundava na Europa. Quando a lenha estava verde e não queria acender, ela
exclamava: "Na Europa sim, o fogo acende que é uma beleza". Quando tasquinhava uma fruta que bem lhe sabia, não deixava de observar: "Está de fato
saborosa, mas como as da Europa..." E, enganando-se a si própria, a Europa cresceu perigosamente na sua imaginação. Por isso, olhando-me com
bondade, falou:
- Ainda bem que vossemecê vai conhecer a Europa. Aquilo sim. A carne lá é tão sadia e tenrinha que nem precisa de tempero. O vinho pode ser
bebido às botijas, como se fosse água da bica, não faz mal a ninguém. E as frutas? Maçãs e peras só servem para engordar aos porcos. As cidades são
grandes, as casas são altas, chegando mesmo algumas a contar três e quatro andares. A gente mora em palácios. Os homens andam de casaca e as
mulheres usam vestidos tão ricos que necessitam de aias para arrepanhar-lhes a cauda. Ademais, encontramos pelas ruas senhoras tão importantes que,
ao passarem pelos pobres, como nós, viram a cara, pois não querem molestar-se com a nossa presença. Lá na Europa não é como na
Água Fria, onde toda a gente anda descalça, tem apelidos e se trata por você; onde, aos domingos, se bebe
cachaça e há facadas pelas portas das vendas...
Rosalinha sentia-se ofendida nos seus brios de filha da Água Fria:
- Mamãe, que é isso!
A verdade era que, para aquela velha, a América era a Água Fria. E ela sentia um ingênuo rancor pela Água Fria.
Ainda conversei um pedaço com os imigrantes de torna viagem e voltei para o grupo em que d. Carmen Portela representava, com tanto brilho, o papel
de dona da casa. O café já tinha sido distribuído: estava no centro do grupo, na mesma vasilha da carne com batatas.
Apanhei a minha caneca de folha, enchia-a e levei-a com delírio à boca, mas cuspi para o lado. Aquilo não passava, naturalmente, de uma beberagem
feita com pó de grão de bico torrado. Não tinha nada, absolutamente nada, de café. Limitei-me a roer duas roscas sem sal e fui fazer mais uma
tentativa de beber a água de bordo.
Para isso, entrei na extensa fila. Dia e noite, os pretendentes a essa água ruim ficavam ali, à espera da vez. O reservatório era um cubo de ferro,
coberto de ferrugem, mais alto do que um homem. A torneira ficava a meio palmo do chão e deitava delgado fio de água. Ao pé dela, havia sempre o
guarda. Estava sentado numa cadeira, chupava o cachimbo e zelava pela ordem da fila e aproveitamento do líquido. Quando uma caneca ficava cheia,
saía de baixo da torneira, e a seguinte demorava para tomar-lhe o lugar, ouvia-se uma tempestade de pragas expelidas de mistura com fumaça...
Tudo isso seria tolerável se a água correspondesse à usura com que era fornecida. Mas, não. Era quente, escura, salobra, com um pitiu que desanimava
aos mais sedentos. Dizia-se que era colhida no mar e destilada nas caldeiras. Uns acreditavam, outros não. O caso é que, depois daquela manhã em que
não consegui ingeri-la, começou para mim um tormento que poucos têm sofrido, afora os náufragos e os caminhantes perdidos no deserto: a sede. |