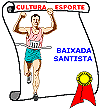|

Imagem: reprodução parcial da pagina 4 da edição de
25/3/1945 com o texto
IV - Os suspeitos
Na coberta, os retalhos de sombra eram disputados. Não podendo permanecer no porão, pois ali,
àquela hora, fumegava um balde de enxofre, nem dispondo de cadeira de lona para acomodar-me num canto, comecei a correr o navio do cadaste à roda de
proa, onde quer que a minha presença não fosse proibida. E a sede a torturar-me. Fui à cantina disposto a gastar a última moeda, mas a meia porta
estava tomada por outras pessoas que compravam tabaco, bolachas e bicarbonato. Depois de longa espera, pedi uma garrafa de gasosa, bem gelada... Não
havia. As poucas restantes destinavam-se aos passageiros de classe. E cerveja? E água mineral? O mesmo.
Dali por diante, só tive uma preocupação: contar pelos dedos os dias e as horas que, segundo cálculos assaz suspeitos, faltavam para a nossa chegada
a Tenerife, primeiro porto da escala. E enquanto esse dia não vinha, pus-me a sonhar com água. Lá chegando – imaginava eu – entraria na primeira
fonda e mandaria vir uma garrafa de água mineral, geladíssima. Água mineral, não, água do pote, nem que tivesse de pagar o dobro. E, quando
regressasse a bordo, traria um carregamento de refrescos para o resto da travessia...
Mas, estávamos num domingo. A bordo, era dia de festa. Benjamim, o moço do convés que se entendia conosco, passou agitando no ar uma sineta alegre.
Os passageiros eram convidados a reunir-se a meia-nau. Ali, no convés ainda úmido da lavagem, tinham improvisado um altar. As sombras azuladas das
chaminés oscilavam, lentamente, sobre a toalha branca, a cruz, o missal, as velas cujas chamazinhas dançavam ao vento. Já havia muita gente.
Estava-se na quaresma. Quase todas as mulheres apresentaram-se vestidas de preto; as portuguesas com os xales pela cabeça, as espanholas com as
mantilhas descidas sobre os olhos. Na frente, mesmo ao pé do altar, divisei Luís, ajoelhado, as mãos postas, a cabeça baixa, absorvido nas preces.
Perto de mim, a sra. Maria, mulher de José Francisco Joaquim, mostrou-o à filha:
- Vê-se logo que é farinha de outro saco... Benza-o Deus!
Os homens da terceira classe agruparam-se atrás, encostados às paredes do tombadilho, às cordas, à amurada. Uns eram religiosos, outros não. Mas,
naquela monotonia da viagem, qualquer acontecimento novo era aproveitado. Os passageiros distintos permaneceram em cima, debruçados na ponte, a
enrolar os bonés nas mãos. Uma família inteira ajoelhou-se no passadiço, segurando com força nas travessas de ferro, esmaltadas de branco.
O padre, já paramentado, apareceu no tombadilho e desceu com dificuldade a escadinha a pique; seguiu-o o acólito, de cabelos ruivos arrebitados na
nuca. Nem bem chegou ao altar, deu começo à missa. A campainha cantava no ar azul e as cabeças se inclinavam. Ouviu-se o Pai Nosso em diversas
línguas. Olhei em volta. Na escada que descia para as máquinas tinham-se reunido foguistas e carvoeiros. Uns traziam a toalha branca à roda do
pescoço, outros amassavam nas mãos negras maçarocas de estopa. Era com aquilo que enxugavam continuamente o suor. Viviam seminus no inferno do
último porão, numa temperatura mortal, entre labaredas e esguichos de fumaça: sempre que podiam, vinham ver o céu, onde estavam os outros homens.
Pareciam pintados de alcatrão. Á roda de seus olhos a cinza se havia acumulado, numa pasta escura. Um deles tinha olhos azuis. Aqueles olhos
destoavam da máscara, pareciam de vidro, iluminados por dentro. Os camareiros, de avental, boné branco, braços cruzados no peito, haviam se ajuntado
à boca do corredor. Os empregados da cozinha, da padaria, do curral, sentaram-se nas grades que os separavam do convés. Lá estava Sancho Pança;
tinha os dedos feitos de salsichas. Dom Quixote rolava nas mãos o elmo desbeiçado. Mas, todos pareciam contritos. Só um passageiro não tomava
conhecimento daquilo: o Anjo.
Esse Anjo era um sujeito esquisito. Naquele navio, os ovéns começavam no chão, em baixo da amurada: e ele passava o dia inteiro sentado na primeira
travessa da enxárcia, a uma braça de altura, a ler um livro grosso. O chapéu enterrado na cabeça, os óculos na ponta do nariz, o "cavour' de
abas esvoaçantes. Não se diria a ninguém. As mulheres ao vê-lo assim deram-lhe logo a alcunha de Anjo. E Anjo ficou. Não dava trela aos demais, por
isso ninguém gostava dele. Num momento em que todos se voltavam para o altar o catacego continuava entregue à leitura que começara em Buenos Aires,
na Dársena Norte, quando dois homens graves foram entregá-lo, como coisa preciosa, aos cuidados do comissário.
O sol batia de viés nas mulheres ajoelhadas, nos homens agrupados pelos cantos, no sacerdote que oficiava, no coroinha que não cessava de rodeá-lo,
mudando a posição do livro, ou retirando com unção o cálix cheio de reflexos. Nesse cálix, havia uma centelha divina – o sol. E o mar lavava o
costado do navio, as águas desciam-lhe pelas placas de aço grossas de ferrugem, com uma queixa abafada. A quietação abria asas luminosas no céu e no
mar. E, como fundo dessa quietação, tornaram-se audíveis o pulsar das máquinas, o tam-tam da hélice, o ir e vir dos gualdropes, o gemido do vento
nas cordoalhas e o ranger dos botes de salvamento que oscilavam pendurados nas pontas recurvadas dos turcos.
Quando terminou a missa, o padre dirigiu-nos algumas palavras aconselhando submissão aos grandes da terra, para alcançarmos as graças dos grandes do
céu. Um andaluz de enormes bigodes esteve para responder-lhe, mas houve intervenção de amigos e o homem foi levado para a proa, insistindo muito no
seu ponto de vista, enquanto o padre grimpava pela escada do tombadilho, seguido do coroinha ruivo, picado de sardas.
Luís fora o último a erguer-se, com os joelhos duros, uma mancha de óleo no terno de casimira. Persignou-se três vezes. Depois caminhou pelo convés,
o semblante seráfico, a alma vazia de pecados. Mas, os homens logo se reagruparam para discutir um acontecimento que, nos últimos dias, conseguira
quebrar o ramerrão cotidiano. Afirmava-se que havia ladrões operando a bordo. Citavam-se nomes de três ou quatro passageiros que, adormecendo
inesperadamente, tinham acordado, horas depois, meio apatetados, alijados dos valores que traziam consigo. Ainda se comentavam esses sucessos,
quando Pancho Perez subiu do porão, onde tinha ficado a dormir, e entrou a cambalear como bêbado. Era um pobre peão de ganaderia. Magro, alto,
desaparafusado, visivelmente débil, tinha-se tornado popular entre os passageiros pela peta, sempre a mesma, com que pretendia empulhar os outros.
Quando a gente estava distraída, ele apontava a distância e gritava – La balena! La balena!
A princípio, muito ingênuo correu para a amurada e pôs a mão em pala, na esperança de lobrigar o cetáceo, a golfar água no horizonte. Com o tempo,
todos se precataram contra a facécia; era debalde que ele olhava o mar e dava o grito de alarme – ninguém acreditava mais na baleia. Dessa vez,
porém, Pancho Perez vinha fora de si...
- Que te aconteceu? - perguntou-lhe um da roda.
Ele mirou os circunstantes com olhos turvos e esforçou-se por contar o drama. Mas, era difícil. Baralhava tudo.
- Olhem aqui...
Virava pelo avesso os bolsos da calça.
- Sem dinheiro?
Fez beicinho para chorar. Cercaram-no. Crivaram-no de perguntas. Ele contou:
- Estava deitado na minha cama, sem sono. De repente dormi muitas horas a fio. Quando acordei, olhem... - ficou a examinar os bolsos virados para
fora e, verificando mais uma vez que ali não estava o dinheiro que devia estar, perdeu a pouca calma que lhe restava.
Vimo-lo chorar convulsivamente, olhar desvairadamente para as ondas, com ímpetos de saltar no abismo. Arrancava punhados de cabelos. E, nuns
farrapos de frases, foi contando a sua desdita. Era de Vila Garcia, na Galiza. Todos os anos ia ao Uruguai, onde trabalhava oito meses, ganhando o
suficiente para si e os seus, na vida pobre do terrunho. Desta vez, trazia consigo, como resultado de heroicas economias, uns 250 duros.
Acariciava-os no bolso. Deitara sem sono, só para passar o tempo. E, de repente... acordou sem o dinheiro. Nem mesmo uma "perra chica!" Novo
acesso de desespero.
Os passageiros mostravam-se indignados com aquele assalto. Uns puseram-se a reclamar, outros por conta própria iniciaram a devassa. Estava-se nessa
angústia, quando Luís exclamou:
- Amigos, o Pancho Perez não pode perder seu rico dinheirinho. Proponho que cada um de nós, na medida das posses, entre com qualquer coisa, para
repor-lhe as economias roubadas.
Dizendo isso, foi buscar uma folha de papel almaço, escreveu algumas palavras ao alto e iniciou a coleta. Um velho de cara chamuscada perguntou-lhe:
- E você? Com quanto entra na subscrição?
- Com o que faltar para os 250 duros.
Eu estava ali mesmo, foi a mim que Luís se dirigiu em primeiro lugar.
Meti os dedos no bolso do colete, tirei uma moeda de prata das poucas que me restavam e entreguei-a. Mas ele, que sabia das minhas posses,
alarmou-se:
- Você vai morrer de fome na Europa!
- Um dia mais um dia menos, tanto faz.
Durante a manhã, o "rubio" andou com a lista para cima e para baixo. Visitou o capitão, o imediato, o comissário, o cantineiro, as famílias
das classes distintas e, à hora do almoço, com aparato, fez entrega de 250 duros ao pobre diabo. Muitos lhe elogiaram a iniciativa. Mas houve
exceções. O velho da cara chamuscada fulminou-o com olhos foscos de desconfiança, aventando logo a suspeita de que tivesse ganho uns cem ou duzentos
duros na transação.
A verdade é que a terceira classe fervia, como vespeira assustada. Diante dessa inquietação, um passageiro desceu da segunda classe, misturou-se no
nosso meio e propôs que se tomassem providências sérias contra os ladrões que estavam operando tão descaradamente. Era um velhote corado como uma
maçã, de boina branca e guarda-pó. Andava sempre com o peito aberto para mostrar o esplendor das camisas; todas as manhãs estreava uma camisa de
seda que, segundo a avaliação dos entendidos, deveria ter custado vinte pesos na casa Gath & Chaves... Chamavam-no de Dom Bustamante. Diziam-no
agiota.
Dom Bustamante chamou a si a espinhosa tarefa. Dirigiu-se ao comissário e pediu os nomes dos ladrões deportados pela polícia, muito encontradiços
naquelas travessias a baixo preço. O funcionário de bordo, inteirado dos louváveis intuitos, abriu a lista de passageiros e mostrou-lhe dois nomes
sublinhados a lápis vermelho.
A seguir, apertou um botão, chamou Benjamim e determinou-lhe que indicasse as duas pessoas suspeitas. O marinheiro à frente, o agiota atrás,
dirigiram-se ao convés. Chegando ao pé da enxárcia que subia da amurada para a verga da gávea, como tríplice escada de cordas, Benjamim fez sinal ao
Anjo, ordenando-lhe:
- Para baixo!
O solitário não tugiu, nem mugiu, fechou o livro grosso, meteu-o no bolso do "cavour" e desceu do pouso, postando-se diante dos dois homens,
sem demonstrar a menor comoção. Sua fisionomia tinha a imobilidade de uma máscara. Os que andavam ali por perto rodearam-no logo. O marinheiro
voltou-se para Dom Bustamante e informou-o:
- Este é o Benitez.
Dom Bustamante examinou-o e não pôde deixar de observar ao marinheiro:
- A verdade é que ele não tem cara de ladrão!
E o marinheiro, com um riso que lhe fendeu a boca até as orelhas:
- Porque é ladrão. Se tivesse cara de ladrão não poderia ser ladrão. Toda gente correria dele...
O pobre diabo mostrou-se mouco a tais palavras, parecendo estar a mil léguas de distância. Devo confessar que ele, com o seu "cavour", o
livro grosso, a absoluta indiferença pelos que o cercavam, havia enganado a todos os passageiros, inclusive a mim, o que não deve ser contado entre
os seus triunfos. Estabeleceu-se uma espécie de júri. As testemunhas surgiam da chusma e depunham. Todos eram concordes em que o Anjo, desde o
amanhecer, se instalava no seu posto e dali não saía a não ser para o rancho. À noite, botava o livro no bolso e descia para o porão. Ia direto à
cama, deitava-se, virava para o canto e só se levantava no dia seguinte, a fim de sentar-se no primeiro enfrechate das enxárcias.
Não contava grandezas da vida em terra, não afirmava que chegando à Europa seria recebido com banda de música. Enfim, era um sujeito antipático, mas
nenhum crime lhe podia ser atribuído. Por isso, deixaram-no em paz.
Saindo dali, Benjamim levou Dom Bustamante a outra parte da coberta e indicou-lhe um rapaz rechonchudo e corado, mal vestido, que contava anedotas.
O marinheiro parou diante dele, encostou-lhe o dedo no peito e anunciou:
– Este é o Patudo.
Houve um movimento de pasmo. Luís, que estava na roda, deu um passo para trás, olhou-o de esguelha, tirou a escarcela, contou as pratinhas,
guardou-a novamente no bolso e abotoou meticulosamente o paletó. Depois, exclamou:
– Puxa! Como a gente se engana!
Eu, por mim, fiquei satisfeito de conhecer um ladrão em carne e osso, daquelas figuras que desde criança me assustavam, me tiravam o sono.
Imaginava-os uns sujeitos altos, magros, pálidos, de barba por fazer, os olhos vivos, os dedos compridos, as unhas mais compridas do que os dedos, e
que, alta noite, deslizavam pelos corredores escuros, com passadas compridas e silenciosas...
Benjamim foi-se embora a gingar, a bater os tamancos. Dom Bustamante, com a cara mais circunspecta que encontrou à mão, interrogou o Patudo:
– Você é mesmo ladrão?
O rapazola riu gostosamente.
- Não. Se eu fosse mesmo ladrão não estaria aqui, mas na primeira classe. Não passo de um fulastra. Nasci para rico.
– E por quê não é rico?
– Porque não há mais vaga: vocês chegaram primeiro à América.
E a conversa continuou nesse tom por muito tempo. Gostei do Patudo. Sabia coisas... Contava cada aventura... Um encanto de rapaz. Nada se apurou, no
entanto.
Em honra ao domingo, o jantar foi melhorado. Em lugar de carne com batatas, carne com grãos de bico. Além disso, o "porrón" cheio de vinho,
que no dizer dos entendidos era muito razoável. Eu, porém, não tinha fome, tinha sede, uma sede que já se havia tornado obsessão. Mal toquei no
prato. Contentei-me em assistir àquele festivo almoço.
Homens de boina levantavam o "porrón" o quanto podiam e deixavam o vinho correr, num fio
escarlate, da vasilha para a garganta. Havia os malabaristas exímios nessa arte de beber. Faziam sortes dignas de um circo. Depois, sentavam-se por
ali, uma rosa em cada face, e soltavam garganteios compridos, lastimosos, sentimentais: "Llora porque és male-e-e-e-e-e-va". E ao cair da
noite surgiram guitarras. Formaram-se rodas. Moçoilas foram para o centro com os seus pandeiros. Elas dançavam o fandango e eles marcavam o ritmo
com palmas compassadas.
Passeando pelo navio, fiz uma descoberta que me alegrou. Os dois clandestinos presos à boca do porão, logo à saída do Rio de Janeiro, e que o
marinheiro Benjamim disse estarem a ferros, não sei onde, tinham sido aproveitados no serviço de bordo.
Ao passar pela grade que vedava os fundos da cozinha, vi-os ao luar, instalados entre um saco de batatas e uma grande vasilha de ferro esmaltado.
Pareciam inteiramente absorvidos pelo trabalho. Tomavam a batata do saco, descascavam-na com uma desenvoltura que, certamente, haviam adquirido pela
continuidade da operação, partiam-na ao meio e atiravam-na na bacia ao lado.
Vendo-os, saudei-os amigavelmente, mas, parece, estavam proibidos de comunicar-se com os passageiros, pois limitaram-se a baixar a cabeça e sorrir.
- Estão melhor agora?
- Si, a pellar las papas...
Mas não tiraram os olhos da tarefa. Tive uma ideia.
- Amigos, estou morrendo de sede. Vocês não poderão arranjar-me uma caneca de água que não seja daquela caixa?
A princípio, hesitaram. Depois o mais moço relanceou um olhar em redor, para certificar-se de que não estava sendo observado, tomou de uma caneca,
foi à cozinha e de lá voltou, com ela a transbordar. Aquela água não era muito melhor do que a outra, mas estava fresca e tinha sido servida com boa
vontade. Bebi-a quase com gosto. Depois, tive a ideia de agradecer com uma moeda das que me restavam. Levei a mão no bolso mas o rapaz
formalizou-se, enchendo-me de vergonha. E eu admirei aqueles dois jovens que viajavam clandestinamente num vapor no qual a passagem custava tão
pouco e que tão sobranceiramente recusavam o pagamento do serviço que me haviam prestado.
Mais adiante encontrei Luís, de pé, no meio do convés, a olhar os passageiros de classe que aproveitavam a noite na ponte que nos ficava à cabeça.
Alguns tinham se debruçado sobre a terceira classe e fumavam. Para eles, certamente, a terceira classe era uma jaula, onde as feras uivavam canções,
ou corriam de um lado para outro, na ânsia de liberdade. Ao ver-me, Luís chamou-me para junto de si e, com uma insolência que me constrangeu, pôs-se
a indicar a dedo os homens que nos espiavam lá de cima.
- Você está vendo aquele gorducho, de "casquette" de couro e paletó curto? Está rico e vai passar a primavera na Europa. É dono de um 'frége"
na praça da Harmonia. Conheço-o de sobra. Sua casa é tão suja e mal frequentada que eu preferia passar fome a lá entrar...- e ria nas bochechas do
passageiro, comprometendo a importância que ele afetava. O homenzinho, vendo-se apontado a dedo e escarnecido sem saber porque, disfarçou. Primeiro
olhou fito para a goela em forma de raia que, muito escura, palpitava no alto, captando ar para os porões; depois, como se tivesse lembrado de
qualquer coisa correu para dentro. E Luís achou uma infinita graça naquela retirada...
Pelas rodas, continuava-se a arrulhar: "Llora porque és ma-le-e-e-e-e-va". As guitarras cantavam, os pandeiros retiniam, os tamanquinhos
vermelhos martelavam no pavimento metálico, e mãos duras de cabos marcavam o compasso do fandango.
Fui para a popa, encostei-me à grade, mesmo por cima da hélice, e fiquei a olhar a esteira esbranquiçada que o navio ia deixando na passagem. Nessa
esteira, flutuavam e se perdiam na noite os detritos de bordo: nacos de pão, folhas de jornal, manchas de óleo, restos de comida que os passageiros
de faxina atiravam às águas. Peixes grandes e escuros que acompanhavam o navio davam cambalhotas mostrando a cauda prateada. Senti absorvente o
mistério, o imenso mistério do céu e do mar. E o Berenguer-el-Grande lá ia, ao luar, levando no bojo escuro, pela última vez, a sua buliçosa
carga humana...

Imagem: reprodução parcial da pagina 3 da edição de
1/4/1945 com o texto
V - A linha
Naquela tarde, à hora em que os da primeira classe tomavam chá, ouvimos lá em cima uma mulher cantando, acompanhada ao piano: na "fermata"
final, ecoaram palmas. O Benjamim,que subia e descia do tombadilho, carregando baldes de gelo nos quais apontavam gargalos de garrafas de champanha,
informou-nos que os viajantes distintos estavam festejando a passagem da linha do Equador. A sineta já havia dado as duas pancadas que assinalam as
cinco horas do relógio quadripartido de bordo e o sol ainda se erguia, aparentemente, a duas braças da linha do horizonte, mas a sombra deformada do
navio estendia-se longamente pelo mar, como o primeiro retalho da noite.
- Benjamim, quer dar-me uma pedra de gelo?
- Isto não é gelo, isto é ouro...
- Aquela pequenina que vai cair do balde.
- Pidão!
Ele olhou em redor, tomou a tenaz de prata em forma de pés de galinha e ma estendeu. Botei-a na boca e chupei-a, com delícia. Só serviu para
exasperar a sede. Fazia um calor abafado. O céu cobria-se de uma capa de nuvens bronzeadas, com rebordos vermelhuscos, de cobre polido. Um homem
estava debruçado na amurada, a contemplar as ondas finas que, lá em baixo, pareciam lamber o costado do navio. Outro homem passou, acendeu o
cigarro, e, para dizer qualquer coisa perguntou-lhe:
- Ché, paisano, estás interessado em ver a linha, com teus próprios olhos?
Ambos riram e quedaram-se para ali, a conversar. Além da sede, eu tinha naquele momento outro motivo de inquietação: era a impossibilidade de ficar
só. Nascido e criado nas faldas da serra, outro pouco nas praias, quase desertas, habituado a uma solidão e a um silêncio que, por vezes, chegavam a
doer na alma dos forasteiros, sentia em certos momentos necessidade de não ver ninguém, de não ouvir voz humana. Por isso, quando saía do meu
torrão, andava à cata de lugar em que ficasse só. Não raro fechava-me por dentro, no quarto, deitava ao comprido na cama, cerrava os olhos e, vazio
de pensamentos, permanecia imóvel durante meia hora. Com isso, recobrava a força e retemperava o ânimo. Mas, a bordo, esse repouso tornara-se
impossível.
Havia gente, muita gente, em toda parte. O regulamento nos confinava no porão, na proa e no convés. E eu, cansado de acotovelar os passageiros, me
surpreendia a correr de um lado para outro, na esperança inútil de encontrar um cantinho isolado. A chusma me apagava. Punha-me extinto. Na ânsia de
reencontrar-me barafustava para baixo de uma escada, mas lá encontrava dois homens jogando bisca. Subia à proa, marcava um monte de calabres e me
dirigia a ele, mas, ao chegar, via que estava ocupado: um velho tinha tirado os sapatos e, conscienciosamente, aparava as unhas dos pés.
Aquela tarde, no desejo de isolar-me, eu ia me metendo numa alhada que, felizmente, não teve más consequências. Depois de vagar pela proa, vi que um
bote de salvamento oscilava pendurado na ponta dos turcos; o pano de vela que o protegia da intempérie estava frouxo. Não me foi difícil penetrar na
embarcação e, quanto me permitiu o cavername, que tinha costelas salientes como o esqueleto de um animal, aconchegar-me e deixar-me embalar com os
movimentos do navio. Aquilo era um berço! Não fora a sede que me apoquentava, poderia julgar-me feliz...
Mas, a felicidade, como se diz na canção popular, "é coisa que não tem". Um vigilante, passando na sua ronda, descobriu-me. Deu a festa para o
diabo. Expulsou-me do bote com energia; cheguei a pensar que estava cometendo um delito. Quis levar-me ao comissário. Embalde aleguei
desconhecimento das praxes de bordo, ignorância etc. E ele me teria posto numa enrascada se não fosse a Providência. A Providência, minha velha
amiga, surgiu na figura de um homem que passava o dia e parte da noite, as mãos nas costas, a caminhar de um lado para outro.
- Que vais fazer com o rapaz?
- Vou levá-lo ao comissário.
- Ora, deixa-te de história. O fato dele ter entrado no bote não quer dizer que seja criminoso.
- Quem é você?
- Sou o mestre Vieitas... - e, talvez por hábito, tirou do bolso uma carteira escura, suficientemente ensebada, estendeu-a ao marinheiro, mas este,
que já havia sentido nele o colega, o homem do mar, mudou de humor. Soltou-me o braço e lá se foi, a balançar mais do que o navio.
O marítimo ficou em pé à minha frente. Era um velho magro, enxuto de carnes, com a pele cor de ferrugem esticada sobre os ossos. Vestia casaco
preto, com botões dourados, sem nenhuma insígnia, calças de zuarte, puídas nos joelhos, e botinas de elástico, engraxadas de fresco. Equilibrava no
cocuruto um boné comum, de pano azul, tão pequeno que lhe punha à mostra boa parte da cabeça. Usava o cabelo rapado a navalha: uma poeira de prata
lhe cobria o crânio de terracota. Falava com a boca fechada, mascando um tolete de fumo doce.
- Esses pobres diabos, quando se pilham no mar, viram príncipes...
- Muito obrigado, mestre.
- Quem foi rei nunca perde a majestade.
- O senhor é capitão de barco?
- Sim. Mas barco a valer. Não pense que sou desses calhambeques que navegam com vento de porão...
Vi logo que tinha, como tantos outros patrões de navio a vela, um sagrado desprezo pela navegação a vapor. O homem que cortava as unhas desocupou o
monte de calabres: retomamos o seu lugar. Foi ali, sempre mascando um naco de tabaco doce, que ele me contou as andanças da sua vida. Vinha de uma
família de lobos do mar. Nascera em Setúbal, entre o rio e o oceano. Era uma água maravilhosa, dizia ele. A gente mergulhava a mão e retirava-a
cheia de sardinhas... Quanto ao vinho, um homem como ele não o comprava, como os outros; bastava entrar numa daquelas tascas e sentar-se à mesa. O
dono da locanda, honrado com a presença, ia pondo as garrafas à sua frente. Para que copos? Virava a garrafa na boca assim, assim... E quando a
garrafa estava enxuta, era só atirá-la para trás, por cima do ombro... Imitava o gesto e ria, com o som de um calhau esfregando no outro.
- Já passamos a linha?
- Quem sabe lá. Só consultando os instrumentos. Mas, estamos na região. Conheço-a como estas palminhas que você está vendo. Aqui, os ventos dormem,
as velas arriam ao longo dos mastros, o mar por vezes se torna mais parado do que uma tina de alcatrão. Os patrões atiram o boné por terra e pisam
em cima. O gajeiro dorme na cesta da gávea. O moço do leme debruça-se na roda e cochila. Mas, quando o vento acorda, parece um touro bravo. Abaixa a
cabeça e corre pelo mar, dando urros, chifrando os navios, levantando ondas que mais parecem outeiros... Antigamente, era a região dos mistérios e
dos sustos. Daqui para o Sul, pensavam os antigos, o mar começava a encachoeirar-se e se precipitava nos abismos do fim do mundo. O céu baixava
tanto que os emissários do Santo Papa João XV conseguiram tocá-lo com a mão, "mas devagarinho, para que ele não furasse". Estes mares eram habitados
por monstros perigosos, uns pela força, outros pela formosura. Quando os ventos sumiam e os barcos ficavam largados nas águas mortas, nenhum
marinheiro espiava por cima da amurada; é que as sereias andavam por aí. Elas subiam à flor das águas e, penteando-se, punham-se a cantar. Ninguém
poderia resistir a tão tentadores apelos. Quem as visse com seu busto de mulher, sua cabeleira de ouro, e lhes ouvisse o canto, perdia a cabeça,
saltava nas ondas e ia morar nos seus palácios de coral. Não voltava mais.
Mas, um dia, as caravelas vieram da península azul. Eram como grandes pombos com uma cruz vermelha em toda a existência de suas asas brancas. Fez um
silêncio, cuspiu a pasta de fumo doce, e num ar confidencial contou-me aquilo... Você sabe? Cristóvão Colombo nunca existiu. Não acredite, Colombo
quer dizer "pombo", Cristóforo quer dizer "eu conduzo a Cristo". Ele não descobriu a América; ele marca a data da descida de Cristo sobre uma terra
que já era conhecida desde tempos imemoriais. Depois das três caravelas (três como as pessoas da Santíssima Trindade) vieram muitas outras. Umas com
homens e armas. Outras com religiosos. Outras ainda carregadas de mulheres. Lá vinha a Alfama com todas as suas guitarras! E o mar emudeceu para
ouvi-las...
Com o tempo, começaram as correrias dos corsários. Suas velas negras puseram em fuga as velas brancas. O mar estava infestado de piratas, de
homens de abordagens. Entre os seus capitães, havia conquistadores, amigos e protegidos dos reis. Quando voltavam à Europa, estendiam no chão as
grandes colchas de Damasco e sobre elas despejavam canastras de ouro e pedrarias. Depois repartiam o "butin" com os reis. A matança tingiu de
vermelho estas águas. E, mais tarde, começaram a passar por aqui os navios negreiros. Antes deles, o vento cantava no massame do navio; depois
deles, foi que o vento aprendeu a chorar, a uivar, a praguejar assim...
Tirou do bolso uma "tablette" que parecia chocolate louro, arrancou um bocado de fumo cheiroso, meteu-o na boca e saiu à pressa, sem dizer
porque. Vi-o arcado, as mãos nas costas, encaminhar-se para a escada e desaparecer. Devia ser um maníaco. O navio fendia penosamente o mar parado.
Dali a pouco, divisei uma tarja cor de fuligem a boreste. Seria terra? Desde a véspera que se falava na proximidade de Tenerife, primeiro porto de
escala, mas evidentemente era cedo para lá chegar. Talvez, alguma ilha perdida no oceano... E a mancha a alargar-se, a tomar um perfil de linhas
curvas, prateadas pela tarde. Acabei por certificar-me de que eram nimbos, uma avalanche de nuvens negras esfarrapadas, rolando em direção ao navio.
Dentro de pouco, entraríamos naquela tempestade.
Tive uma ideia. Fui ao encerado, estendi-o entre dois montes de cordas, acamando-o convenientemente a fim de que aparasse um pouco daquela água que,
como todo milagre, vinha do céu. O aguaceiro não se fez esperar. Apenas terminei o trabalho, a chuva desabou intensa, copiosa, varrendo tudo com as
grossas cordas de água. Debaixo da tolda, batido pelo vento, encharcado pelos respingos, observava o recipiente improvisado com o pano. Quando no
fundo de suas cavas apareceu um dedo de água cristalina, eu, lembrando tudo quanto havia lido sobre expedientes de náufragos, tomei da caneca de
folha, enchi-a e levei-a aos lábios. Uma decepção. A água da chuva, colhida na cavidade da lona encoscorada de sal, conseguia ser ainda mais salgada
do que a água do oceano. A literatura dos autores de novelas náuticas, pelo menos nesse ponto, como talvez em outros, estava errada.
Passada a chuva, já noite fechada, o céu voltou a ficar limpo. Os passageiros, que pretendiam aproveitar um pouquinho da festa da primeira classe,
foram-se espalhando pelo convés. Lá estavam o José Francisco Joaquim, com a mulher e a filha; a sra. Carmen Fontela, os dois filhos e a irmã; o
Luís, o Pancho Perez, o mestre Vieitas. O Benjamim passava de quando em quando com bandejas de laranjas, de uvas, de maçãs para a primeira classe.
Um piano enchia a noite de harmonias. De quando em quando, escutavam-se palmas.
Foi por essa altura que eu senti uma dor estranha: dor nos cabelos. Explico-me. Meus cabelos já de si compridos tinham crescido enormemente nos
últimos dias. Desde que uma rajada me arrebatara o chapéu, andava com a grenha ao léu, sempre emaranhada pelo vento, encharcada pela chuva. O cabelo
tinha-se-me tornado uma pasta áspera e viscosa, na qual o pente passava por cima, sem entrar. Aquilo me afligia. Sentia-me diminuído, ridículo. Com
certeza, era contado entre os maníacos de bordo, muitos e estrambóticos. Mas, que fazer? Pois foi nos cabelos que comecei a sentir aquela dor. Uma
dor pesada, surda. Sentei-me a um canto, mas não consegui descansar. Os pés gelados, o rosto incendiado. Um ardume nos olhos, como se eles
estivessem com areia. E de tal modo cresceu o mal que, dentro de pouco, resolvi arrostar o cheiro do porão e para lá me dirigi.
Passei por entre as armações de ferro batido, onde os ocupantes dormiam, jogavam, contavam anedotas ou permaneciam num silêncio cheio de sonhos.
Cheguei ao meu leito; ficava encostado ao casco do navio e era o do meio. Em baixo dormia um sujeito que, durante a noite, rilhava os dentes; em
cima, virava-se e revirava-se um passageiro que eu, até ali, ainda não havia identificado.
Bem na minha cabeceira, ficava a vigia; era um orifício circular no costado do navio, com cerca de um palmo de diâmetro. Do lado de dentro, muito
espessa, ficava a tampa de ferro que servia para fechar a minúscula janela e que, por ocasião das tempestades, os marinheiros apertavam com
parafusos. Mas, naquela noite, as vigias estavam abertas. Nos leitos próximos, divisei alguns passageiros. Uns estavam sentados em arco, para não
baterem com a cabeça no leito de cima. Outros, mesmo deitados, conversavam com os conhecidos, à distância, sem ver-lhes o rosto. Por isso, as
conversas se cruzavam, se perdiam, na meia luz do porão, à claridade macia das lâmpadas do teto, protegidas por telas de arame.
Que sede... Deitei-me e fechei os olhos. Sentia a língua seca, os lábios como cobertos com papel de seda. Via muitas coisas, misturando a realidade
com a fantasia. Nessa modorra cheia de sombras e clarões, vi-me em Santos, em pleno verão. Nos cafés, nos bares, por toda parte, fregueses felizes
gritavam:
- Uma limonada!
O moço de avental branco que se agitava atrás do balcão empunhava a comprida faca e ia atorando ao meio as bolas verdes dos limões, depois
esmigalhava as metades contra o pires que tinha no centro uma grande verruga de cristal; por fim, escorria o suco para a batedeira prateada e,
misturando água - água que vinha da serra - açúcar e bocados de gelo, punha-se a fazer o exorcismo com que afugentava o calor de toda gente. Via os
copos transitarem nas bandejas; eram altos, finos e cheios de reflexos, transbordantes de líquido xaroposo, espuma alegre e um canudo de palha,
encamisado de papel, grudado na borda. Nas mesas de mármore, cavalheiros vestidos de linho chuchurriavam a bebida açucarada, enquanto a orquestra
esboçava ritmos sincopados. Ah! O verão na minha terra...
Em Santos, àquela hora, o luar devia estar muito claro. Nas chácaras da Barra, poder-se-ia ouvir o crescer da erva. E os grilos, certamente, ziniam
debaixo dos copados limoeiros, apendoados daquelas bolas verdes que Deus espalha pela terra exclusivamente para a confecção de limonadas...
O passageiro que ocupava o leito de cima debruçou-se e cuspiu no pavimento. Olhei. Era uma pasta de fumo mastigado. Devia ter o hábito de mascar.
Nessas condições, só havia um passageiro: mestre Vieitas, o marítimo.
Dali a pouco, o desconhecido sentou na borda do leito e pendurou as pernas azuis, com botinas de elástico, espelhantes. Era ele mesmo. Sua voz
áspera fez-se ouvir:
- Ó de baixo! É você, santista?
- Sim, sou eu.
E sem me ver, foi dizendo:
- Olhe... Se você um dia for a Setúbal procure o Capitão Vieitas. É assim que eles me chamam. O patrão do Rio Sado. Não precisa endereço.
Entre na primeira tasca, onde houver uma roda de marujos, e pergunte por mim. Eles lhe dirão que moro na Escada da Amoreira, encosta da Arrábida.
Não tem que errar. É uma escada de pedra, ladeada de muro, que sobe em zigue-zague pelo morro. Os casinhotos são cinzentos, de portadas brancas, e
parece que estão pendurados na rocha. Passa a casa do Freitas Tanoeiro. Passa o quintal do Ti Zé Senhor, que vende flores à porta de Santa Clara. A
janela de minha casa tem cortinas de percal e vasos de barro com rosmaninhos. Há seis anos que lá não vou, que não recebo notícias, por causa da
espetadela de mau jeito que dei na barriga de um pelintra, pela festa das cartuxas. Mas, o crime está prescrito.
Recolheu as pernas azuis, deitou-se, tossiu como os velhos, depois continuou a falar. Mas, já não falava para mim, falava para si mesmo. Dizia:
- Não foi por esquecimento, isso não foi... Quando lá chegar, todas as coisas estarão a postos, à minha espera, como quando eu chegava da Terra
Nova, com o Rio Sado atulhado de bacalhau e o bolso cheio de moedas. Nem puxarei a argola da aldraba; irei entrando, como se tivesse ficado
na tasca do Coira a jogar o rapa. A velhota estará debulhando ervilhas no alguidar de barro vidrado; a filha estará junto da janela, costurando os
bragais de linho.. Então, eu abrirei os braços e...
A voz do Capitão Vieitas foi se apagando, apagando, até sumir-se nos umbrais do sono. Eu ia seguir o seu exemplo, mas um vulto parou diante da minha
cama; tinha um baralho na mão e, com agilidade, metia as cartas umas por dentro das outras.
- Ué! Está dormindo?
Era Luís. Como não respondesse, estendeu a mão e me apalpou a testa.
- Com febre. Para mais de 38. Vamos ao médico.
- Não. Prefiro ficar aqui. Só quero água, água boa...
- Espere aí...
Saiu por entre as armações de leitos, perdendo-se na penumbra. Minha modorra foi cheia de clarões errantes, de estalidos secos que me assustavam. De
repente, numa hora qualquer da noite, amortecidas as lâmpadas do teto, a sua figura deslizou de novo por entre as camas e chegando à minha cabeceira
me entregou qualquer coisa, segredando uma recomendação:
- Depois de beber, atire o frasco pela vigia...
Era uma garrafa de gasosa. Meti o dedo pelo gargalo e empurrei a bola de vidro para dentro. Depois, virei-a na boca. Não pode haver no mundo bebida
mais deliciosa. Já li um catálogo de vinhos que mais parecia um poema. Já admirei nas grandes revistas os reclames de "whiskeys", tão caros
que mais pareciam ouro líquido. Mas nada me poderia saber melhor, nem me fazer tanto bem como aquela garrafinha de gasosa que a gente comprava por
uma "perra gorda" em qualquer fonda. Depois de bebê-la, dormi como um justo. Mais tarde, novamente, a figura de Luís apareceu, ao pé da cama,
com outra garrafa, que me atirou de fugida, desaparecendo na sombra.
Bebi-a de um sorvo, deliciado, e como da primeira vez, sentei-me na cama para atirar o frasco pela vigia. Mas fiquei-me a olhar pela janelinha
circular. Alvorecia. O mar estava chão, o céu transparente. Aquele orifício era como uma gota de orvalho em pétala de flor; embora minúsculo,
conseguia refletir o mar cor de rosa, o céu limpo, todas as graças da manhã. Uma estrela branca, coruscante de reflexos, subia e descia no espelho
enrugado das águas.
Senti-me curado: saltei da cama, tomei o corredor No fundo da proa, onde o cavername do navio se afilava em ângulo escuro, havia uma parede de
tábuas com pequena porta. Era o depósito das mercadorias que, lá em cima, se vendiam na cantina. Junto dessa porta, tinham improvisado uma mesa com
diversas malas de viagem, cobertas por encerado. Ao redor da mesa, estavam alguns passageiros grudados na orelha da sota. Benjamim, que devia ser o
vigilante, permitia aquele jogo clandestino, a troco de propinas. E, naturalmente, durante a noite, fazia o seu pequeno comércio de "sandwiches",
bebidas e cigarros.
Luís bancava o jogo. Vi-o distribuir as cartas com agilidade de prestidigitador. Sobre o encerado apareciam notas, pratas, moedas de cobre. A
partida terminou entre exclamações abafadas. Um sujeito de segunda classe, naturalmente depenado, mostrou o seu humor de forma extravagante: fechou
a mão e mordeu com ódio os nós dos dedos... Benjamim dormia no chão, enrolado numa coberta. Os parceiros discutiam os lances do jogo. Vi Luís
levantar-se, transpor a porta do depósito e de lá voltar com uma laranja em cada mão. Passei a sentir medo e admiração por aquele homem: ele
furtava, mas, alta noite, ia levar água aos febrentos que deliravam de sede.

Imagem: reprodução parcial da pagina 4 da edição de
8/4/1945 com o texto
VI - Las Palmas
Alguns dias
depois de havermos transposto a linha do Equador, o marinheiro Benjamim deu-nos boa notícia:
- Amanhã, vocês acordarão nas Canárias.
Mendiguei uma folha de papel, um lápis, e, meticulosamente,
organizei o rol das compras que pretendia fazer: açúcar, limões, xaropes. Mas, como o dinheiro não correspondesse às necessidades, refiz a lista
quatro vezes. Fui deitar-me tarde. Não houve meio de conciliar o sono. Ouvi, pela noite a dentro, a sineta de bordo assinalando os quartos de hora.
Depois...
Acordei cheio de ânimo. Sentei na cama e espiei pela vigia. A
madrugada começava a tingir o horizonte de ouro e rosa. O mar estava calmo, o céu coruscante de estrelas. Subi ao convés. Os marinheiros, pouco
antes, haviam passado por ali com as mangueiras, atirando jatos de água salgada sobre o pavimento, as paredes, as escadas e as cadeiras de lona
esquecidas pelos donos. Do massame e do poleame, encharcados, caíam grossos pingos d'água. O fogacho do tope do mastro grande pendia levemente para
avante e para ré, para bombordo e para estibordo; parecia escrever frases na ardósia escura do céu.
Ninguém na coberta. No passadiço, sobre minha cabeça, um homem
de sobretudo por cima do pijama e uma senhora de roupão de ramagens, com a "écharpe" verde passada pelos cabelos e amarrada debaixo do
queixo, conversavam. Ele devia contar-lhe qualquer coisa muito engraçada, porque ela ria, ria...
Ainda não se avistava terra. A boreste, erguia-se do mar
espesso nevoeiro. Era de um branco leitoso, levemente azulado, e não permitia que se devassasse o seu interior. O navio, com boa marcha, rumava para
ele. Logo depois, à primeira claridade da manhã, um vulto escuro, pontilhado de luzes, passou de largo, a meia milha de distância, em sentido
contrário. Era um transatlântico, em demanda dos mares do Sul. Não foi o único encontro. Um "cutter", dos que fazem pescaria no mar grosso,
surgiu a sotavento: o Berenguer-el-Grande atirou-lhe de passagem o escalracho e o pequeno barco lá ficou a pinotear sobre as marolas. As
velas triangulares eram como relhas de arado, lavrando fundamente a planície líquida.
Decorrido um tempo, o sol apareceu. O nevoeiro adelgaçou-se e
na sua transparência rósea começou a divisar-se o desenho confuso do arquipélago. A princípio, era uma massa escura, onde, apenas, se lobrigavam
saliências e reentrâncias. Depois, os contornos foram se acentuando, as baías apareceram prateadas, os picos metade luz, metade sombra, como uma
paisagem lunar. As velas dos patachos de cabotagem deslizavam pela costa, aos galernos da manhã.
Por essa altura, o convés já estava apinhado de passageiros.
Cruzavam-se perguntas. Ouvia-se o ruído das vasilhas de folha na pia, sob a água salgada que jorrava das torneiras. Os rancheiros de faxina
esfregavam-nas para o café. O marinheiro Benjamim empilhava malas no portaló.
- Aqui desce muita gente? - perguntei eu.
- Não. Apenas aquele par de pombinhos... - e mostrou o casal
que ainda conversava e ria, debruçado no corrimão da ponte.
Mestre Vieitas, arcado, as mãos nas costas, falando sozinho,
passou por mim. Interroguei-o:
- Capitão, estas ilhas são bonitas?
- Bonitas? Upa! As Canárias têm a paisagem e a temperatura que
desejamos. Em pleno verão, a cem quilômetros da África, o pico de Tenerife apresenta-se coroado de neve. Há sanatórios nos vales, grandes hotéis nas
encostas. Antigamente, as Canárias eram conhecidas pelas "Ilhas Afortunadas". Sim, afortunadas, porque lembravam o paraíso. Como já lhe disse, nasci
em Setúbal, onde há um vinhito de que a gente nunca mais esquece. Pois antes de Setúbal, as Ilhas Canárias já produziam as uvas gregas, brancas e
doces, que dão o néctar mais amável do mundo. Esse vinho, que tem o nome de malvasia, está ligado à história do mundo. Na torre de Londres, em
priscas eras, deu-se um drama espantoso: Eduardo IV, roído de ciúmes de seu irmão, o duque de Clarence, tratou de fazê-lo desaparecer. O carrasco
convidou-o a beber num canjirão, atirou-o no tonel, fechou a tampa por cima e ele lá morreu afogado em malvasia.
Fez uma careta, passou da direita para a esquerda a tica de
fumo que mascava, cuspiu fino por entre os dentes e prosseguiu no angustiado passeio. Um marinheiro, de tamancos e chapéu de oleado, surgiu no
convés, chocalhando a sineta. Homens e mulheres correram à cozinha e voltaram equilibrando nas mãos as vasilhas de folha, transbordantes de café.
Pancho Perez repinicava no fundo da caneca. Senti um desejo imenso de tomar café. Respirei forte, enchi o peito de ar e tomei mentalmente uma
resolução heroica:
- Hoje tomarei café, custe o que custar.
Dirigi-me ao grupo presidido pela sra. Carmen Fontela e
acocorei-me entre os que montavam guarda à vasilha e ao monte de bolachas. Ela, bondosamente, sorriu de me ver tão disposto, encheu a caneca e
deu-me duas roscas. Ia, pois, tomar café. Fechei os olhos, levei a caneca à boca e... Seria possível? O café estava bom. Muito bom. Em Santos, no
Marujo, perto da Estação, não se bebia melhor. E só então, compreendi que a minha indisposição pelo café de bordo não tinha justificação, devia ser
levada em conta do enjoo que me aguara o estômago nos primeiros dias de viagem.
Bandos de pássaros brancos turvavam o céu. Vi-os passar numa
grazinada sobre o navio, quase tocando com as asas espalmadas as agulhas dos "gaf-tops". As velas enfunadas de cem barcos, tornadas róseas
pela claridade da manhã, apareciam em todas direções. Chalupas de pescadores dançavam na esteira prateada do navio. Agora, estávamos junto à costa e
deslizávamos num mar calmo, profundo, no qual a paisagem se precipitava, invertida, trêmula: os picos ondulavam, os rochedos pareciam diáfanos como
nuvens.
A ilha era defendida por elevações montanhosas, cor de
chocolate. Seus alcantis desciam a pique sobre o mar. Quilômetros e quilômetros sem uma casa, um penacho de fumo, um animal. Apenas cactos. Cactos e
pedras. Pedras e cactos. De repente, a montanha escura interrompeu-se num corte a prumo, como se a tivessem seccionado a faca. Por essa abertura,
que lembrava obra de pedreiros, feita com trolha e esquadro, descortinei o interior da ilha: planícies toldadas de neblina, empoladas de cabeços
cobertos de culturas; pelas tonalidades do verde que as cobria, julguei distinguir plantações de fumo, de milho e de cana.
Mais adiante, como se apenas lhe faltasse uma fatia, a
montanha recomeçava, para logo desmanchar-se em aglomerados vulcânicos. Seus fragmentos lembravam objetos conhecidos: um açucareiro, uma bucha de
carro com os tocos dos raios, um cone decepado. E, lá no fundo, metade terra negra, metade nevoeiro, um pico azul, devia ser a "Caldera" que, embora
mais baixo do que Tenerife, assim mesmo sobe a 2.000 metros sobre as areias da planície.
À proporção que o navio se aproximava da ilha, a "Caldera"
tornava-se mais nítida. A seiscentos metros de altura, atravessava uma coroa de "stratus" que mais pareciam chumaços de algodão; a mil e
duzentos metros, era cortada por extenso "cirrus", penugem rarefeita de um "rabo de galo". E o cume aparecia no côncavo azul,
encapuzado de neves eternas, escondendo a larga cratera que há muitos anos não dá sinal de vida.
Santa Cruz, a capital da ilha de Las Palmas, foi-se delineando
no horizonte. Para quem chega assim, ao acaso de um navio que ali vai receber água, carvão e mantimentos, não tem grandes atrativos. O casario
europeu se amontoa na distância escura, manchada de claros pelas plantações. Observam-se curiosas aplicações de branco, azul, verde, amarelo e
cinzento sobre o castanho; parece obra de um pintor que, na sua paleta profusa de tintas álacres, só tivesse de escuro, para o fundo da tela e as
sombras da paisagem - um tubo de sépia.
Fachadas brancas surgem nas encostas cor de ferro. À proporção
que o navio avança, começam a delinear-se os edifícios maiores, as avenidas batidas de chapa pelo sol e as ruas residenciais. Um extenso "muelle"
vem ao encontro da proa do Berenguer-el-Grande, mas ele não aceita o seu oferecimento e, por falta de profundidade, ou qualquer outro motivo,
lança ferros a duzentas braças de distância, no ancoradouro coalhado de embarcações de todos os tipos. Entre estas, predominam os veleiros que fazem
o tráfico entre as sete ilhas do arquipélago. Ouvem-se continuamente apitos soturnos de transatlânticos, gritos histéricos de sereias de
rebocadores.
Luís fretou um bote e convidou-me a descer à terra, em sua
companhia. Aceitei com satisfação o convite e, dois minutos depois, desembarcávamos no "muelle". Aquele cabo de cantaria improvisado pelos
homens estava apinhado de vendedores ambulantes. Um comércio ativo, mas pobre, tanto mais gritador quanto mais humilde, disputava a atenção dos
viajantes. Os barqueiros, em pé nas suas casquinhas de noz, equilibrando-se por milagre, gritavam para a terra, mariscando entre os que desejavam ir
a bordo. Ali estavam, em grande número, os vendedores de fósforos e cigarros. Os cigarros, geralmente, eram cigarrilhas, isto é, charutinhos, de
cinco centímetros, em pacotes de cores vivas. As caixas de fósforos eram de papelão, estreitas, medindo quase um palmo de comprimento. Na tampa,
tricromias vivazes; no interior, centenas de palitos de cera com cabeça de cor. Vi Oscar, filho de d. Carmen, afugentar um desses vendedores. Como
bom carioca manifestou logo a sua superstição:
- Sai, moço, que isso dá caguira!
O mais eram vendedores de frutas, doces, sorvetes, limonadas,
cartões postais, fitas, meias, santinhos, bebidas, bonifrates, ídolos guanches, moringues, quadrinhos de filigranas, tudo o que se inventou para
atrair a curiosidade boba dos forasteiros. Fotógrafos postados atrás de suas câmaras, um pano preto pela cabeça, focalizavam grupos. Agenciadores de
hotéis distribuíam cartões, gabavam a seriedade da casa, a excelência do cozinheiro e a modicidade dos preços. Cicerones, de ar circunspecto,
ofereciam seus serviços aos recém-chegados; às famílias propunha uma excursão ao pico da "Caldera", aos rapazes uma visita a certa fonda de calle
Triana, famosa pela canja e pela graça das caixeiras que a serviam. Um pobre diabo, que parecia ter surgido do chão, estacou diante de mim, abriu o
paletó e mostrou-me, presas ao forro, algumas fotografias de artistas célebres:
- Muy sugestivas. Dos reales!
Vencida a chusma de mercadores ambulantes, alcançamos as
primeiras casas da cidade. Ali há praças bem edificadas e bonitas. Delas partem avenidas. Das avenidas, partem ruas geralmente largas e limpas.
Observei logo que essas vias públicas não têm placas esmaltadas com a sua denominação, como as nossas; nas esquinas, veem-se barras de cimento,
largas e altas, com letras de um palmo de altura. Os edifícios são assobradados, cor de cinza ou de havana, com portadas brancas. Nas janelas, vasos
com flores, o que é um costume da Península Ibérica. E da Península Itálica. Enfim, do Sul da Europa. A população é morena, de cabelos pretos, olhos
pequenos e vivos. Estamos a pouca distância da África. Além disso, os primitivos guanches, cujas tocas ainda são encontradiças nas encostas de
algumas ilhas do arquipélago, se dissolveram, ao longo dos séculos, nas gerações dos povoados hispânicos.
Mas, o movimento da cidade é escasso. Aqui, uma mulher
embiocada no xale; a duzentos metros, um carro vagaroso; no fim da rua, dois meninos de pasta, que voltam da escola. Nas praças, os passeios são
largos. Como a temperatura é agradabilíssima e o sol não dá para tisnar, os bares colocam as mesas na calçada, entre árvores anãs, cultivadas
em tinas de cor. A gente passa junto às mesas, onde os fregueses comem e bebem. Cavalheiros bem vestidos degustam vinho branco; são, com certeza,
funcionários da Metrópole. Militares de calças vermelhas, botas espelhantes e tricórnio. Clérigos com grandes crucifixos no peito. Senhoras vestidas
de veludo, "mitaines" e plumas no chapéu. Nesse ponto, observei que estava sendo seguido por um homem trajado de azul-marinho, com galões
dourados nos canhões das mangas e no boné. Todas as vezes que eu parava, ele sorria e, com um dedo erudito, me insinuava informações sobre a ilha.
- Você é, por acaso, o príncipe herdeiro?
- Não, senhor, sou cicerone.
- Obrigado. Não desejo os seus serviços.
- Está bem. Mas como eu o acompanho (lá consultou seu
cúmplice, o relógio) há quarenta e dois minutos, segue-se que o senhor me deve uma peseta.
- Ora, deixe de ser bobo!
- Pague-me, ou...
- Se você me virar de cabeça para baixo e caírem duas
moedas do meu bolso, nós as racharemos, como bons amigos...
Só então ele me examinou com olho comercial. Foi tal a
desilusão que esse olhar lhe causou que ele, envergonhado, quebrou a primeira esquina.
Eu ainda estava gozando a decepção que havia causado ao
cicerone, quando ouvi meu nome gritado ali por perto:
- Felipe! Ó Felipe!
Esse auspicioso apelo saía de uma das mesas colocadas no
passeio, à porta de modesto restaurante. Lá estavam a almoçar d. Carmen, os dois filhos e a irmã. Aproximei-me, cumprimentei-os. Receberam-me com
alegria. A senhora puxou uma cadeira e convidou-me para sentar; queria que eu participasse do seu almoço no dia em que ela, depois de tantos anos,
pisava o primeiro bocado de terra da pátria.
Compreendi que aquilo era uma forma delicada de me oferecer
almoço, pois no mundo inteiro só havia uma pessoa capaz de enganar-se com o meu estado financeiro: o cicerone... Ajeitei o mais que pude a pasta dos
cabelos, apertei o lenço ao pescoço e abanquei-me. Ela, então, bondosamente, serviu-me um pratarraz de lulas, pitéu que ainda não era das minhas
relações. Com a mesma solicitude, encheu o meu copo, depositando no mesmo preciosa pedra de gelo. O garçom estava ali perto, solícito.
Perguntei-lhe:
- Este vinho é malvasia?
Ele sorriu contrafeito.
- Pergunto porque a bordo me disseram que as Canárias são
produtoras desse néctar...
- De quando em quando, ele aparece no mercado. Importamo-lo do
Continente. Mas, fica a vida inteira na adega. Só tem saída quando por aqui passa algum milionário norte-americano.
- Custa então muito caro?
- Ele arregalou os olhos.
- Diez pesetas la botella!
E os circunstantes admiraram convenientemente o preço
astronômico daquele vinho, no qual os reis afogavam os príncipes.
Uma hora depois, refeitos e de bom humor, deixamos o modesto
mas simpático restaurante. A família Fontela dirigiu-se ao "muelle", de regresso ao navio. Eu, porém, com o ardor de um turista estreante,
estava disposto a conhecer melhor a ilha. Entrei por uma avenida sombreada de grandes árvores e pus-me a caminhar para a frente, sem saber aonde
iria ter. A tarde estava luminosa, fresca... agradável. Nas copas escuras chilreavam os passarinhos. Que passarinhos seriam aqueles? Estávamos nas
Canárias; deviam ser canários. Passei por uma chácara deliciosa, em cujo portão se via larga placa de bronze com dizeres. Era o hospital, doação de
um canário benemérito residente no Brasil. Eu bem podia ficar doente ali. Seria até uma solução... A casa era branca, entre árvores velhas, com
canteiros pinturilados de flores. Reinava um silêncio macio, uma preguiça de convalescença...
À proporção que se alongava, a avenida ia alcançando a
planície de chocolate. Sobre ela, começaram a aparecer enormes montes de areias. O vento que vinha das bordas do mar fazia remoinhos e levantava
nuvens de cacau em pó. Achei aquilo curioso e perguntei a um peão que levava um burro pelo cabresto:
- Para que serve esta areia?
Ele sorriu, pediu fogo e respondeu:
- Não serve para nada. É o vento da África que as improvisa.
Hoje, estão aqui, amanhã, estarão a meia légua...
A avenida terminava num palmar. A viração agitava os seus
abanicos verdes. E cantava docemente, como a ninar crianças. Ainda me deliciava na contemplação desse quadro, quando ruídos inesperados chegaram a
meus ouvidos. Parecia tropel de animais, acompanhado de gritos e risadas. Não demorou muito e no fim da avenida, já então transformada em caminho,
surgiram alguns dromedários a trocarem compridas pernas na minha direção. Afastei-me, para lhes dar passagem. Eram passageiros que voltavam de uma
excursão à "Caldera". Sobre um dos animais, sentado em almofada de cor viva. A equilibrar um fez no coco rapado, lá ia D. Bustamante. Ao ver-me,
gritou:
- Olha que perdes o navio!
E distanciando-se sob o dossel de palmas, dizia-me adeus.
Como estivesse escurecendo, abandonei a estrada, desci para a
borda do mar e tratei de regressar ao porto de La Luz. Mas, nem todas as praias do mundo são como as de Santos, onde a areia molhada tem a
consistência e o brilho do asfalto. Lá, as ondas vinham morrer na areia solta, tornando-a numa pasta pegajosa. Mas a paisagem estava linda. As águas
mansas batidas de viés pela claridade do poente. As velas, as inumeráveis velas que singram o mar entre as ilhas do arquipélago, pareciam de duas
cores: amarelas do lado da luz, violetas do lado oposto. E, como fundo desse cenário de mágica, avistava-se o casario de Santa Cruz, igualmente
açafrão e lírio, de acordo com as frontarias pasmadas e os triângulos de sombra que se iam abrindo sobre a terra.
Quando cheguei a uma planície arenosa que me pareceu ondulada
como a superfície do mar, tive estranho encontro. Um padre lá estava, o livro de Horas debaixo do braço, a rabiscar com a ponta do bastão sobre a
areia seca. Aproximei-me. Era pequeno, magro, de cabeça nua. Tinha os cabelos curtos, alisados para a testa e, no alto da sinagoga, notei a
rodelinha clara da tonsura. O vento do mar agitava-lhe os andrajos. E ele, batido pela última claridade do dia, traçava palavras na areia, na areia
que é o livro mais efêmero do mundo. Parei e perguntei-lhe:
- Que faz vossa mercê?
- Versos.
- Ao por do sol?
- Não. À Virgem Maria.
- Vossa mercê é daqui mesmo?
- Sou. Nasci em Tenerife.
- Como se chama?
- José de Anchieta.
Sorri com enlevo. Mas a verdade é que ali não havia nenhum
padre. Apenas a lembrança de que o doce poeta de Iperoig nascera à beira desse mar e, com certeza, aprendera a escrever versos na areia dessa praia,
numa tarde assim, de ouro e violetas, com velas brancas e maroiços transformando-se em rendas nos penhascos descarnados da costa.
Quando cheguei ao "muelle", a cidade já estava cheia de
luzes, o céu cheio de estrelas. A muralha de pedra apresentava-se quase deserta. Ouvia-se o mar a debater-se contra as pilastras. Alguns barcos a
remo dançavam sobre as águas inquietas. Luís, sentado num monte de caixas, censurou-me:
- Outra vez que você demore dessa maneira ficará em terra.
Tomamos o barquinho e fomos conduzidos ao navio. O
Berenguer-el-Grande dava o segundo apito de partida. Grimpamos pela escada, na hora em que ela ia ser içada por meio de roldanas. Luís na
frente, eu atrás. Ao transpor o portaló, parei e exclamei:
- Ó diacho...
Ele estacou atrás de mim.
- Que te aconteceu?
- Esqueci de beber água em Las Palmas.
E com sede voltei para bordo. Para ser franco, não estou seguro de que a ilha de
Las Palmas seja exatamente assim... Mas, foi assim que eu a vi em 1907, num dia inesquecível destas minhas andanças pelo mundo. |